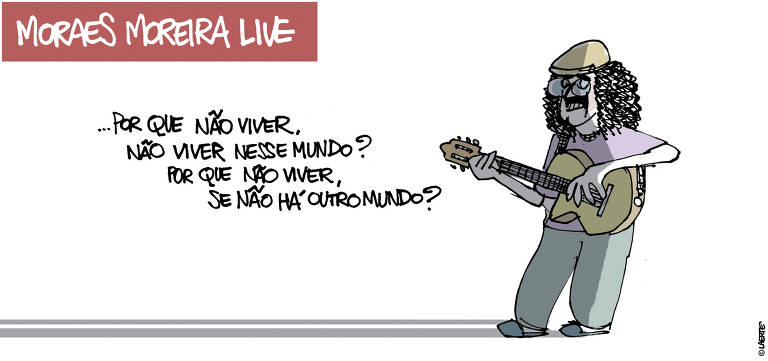Se na filosofia termo representa a busca
incorpórea por sujeito universal, na pandemia define os descartáveis —
corpos negros e pobres, na maioria. Para-choques da imunidade alheia,
camuflam aqueles que o Estado crê vitais: os ultraliberais
OutrasPalavras
Publicado 23/04/2020 às 12:26 - Atualizado 23/04/2020 às 12:33

Para tentar responder a todas essas questões, o ensaio a seguir foi dividido em duas partes. Na primeira, faço uma breve digressão na história da filosofia para abordar o conceito de essência, dando uma pincelada na tradição filosófica antiga via Platão, e na moderna via Descartes e Kant. Nesta primeira etapa, busco apresentar como a modernidade vinculou a ideia de essência à criação de um sujeito universal, fruto não só de uma virada epistemológica atribuída à filosofia da época, mas principalmente de eventos paradigmáticos do período: escravidão, colonialismo, caça às bruxas, nascimento do capitalismo. O objetivo é transparecer como esse sujeito universal vai se constituindo através do exato oposto pelo qual se presume, ou seja, não na base da inclusão (universalidade), mas da exclusão, culminando na ideia de um ser incorpóreo, em contraposição a corporalidade do outro. Na segunda parte, agora já cientes do caminho trilhado pelo conceito de essência ao longo da modernidade, vamos contrastá-la com a ideia de essência atribuída aos intitulados trabalhadores essenciais, usando este gancho para pensarmos mais a fundo as dinâmicas do capitalismo neoliberal em tempos de pandemia.
1 – O que é essencial na história da filosofia ocidental, acerca do conceito de essência, para nossa discussão sobre os trabalhadores essenciais.
O conceito de essência foi a pedra angular do pensamento ocidental por muito séculos. Para Platão, a essência era a verdade e se encontrava no mundo das ideias, conquanto o mundo material, o mundo do sensível – este mundo aqui da covid – é o mundo das aparências, do que é falso, acidental e particular. Logo, Platão traça uma divisão ontológica, ou seja, o ser está no mundo das ideias, não no mundo das aparências. Assim, cria uma hierarquia de valor. O homem se distingue por sua capacidade de pensar, e o máximo uso do pensar é aquele que, através da razão e da articulação racional, busca atingir as ideias – inatas, essenciais, matriz de toda realidade. Importante ressaltar que o mundo das ideias é transcendental, só conseguimos nos aproximar dele pelo uso da razão, e que as ideias tem um caráter universal, ou seja, tem validade ontológica para tudo e para todos, independente do contexto social, político ou econômico, independente do tempo histórico, seja passado, presente ou futuro. A ideia é a fonte da realidade, e como essência é imutável, a-histórica e atemporal.
+ Em meio à crise civilizatória e à ameaça da extrema-direita, OUTRAS PALAVRAS
sustenta que o pós-capitalismo é possível. Queremos sugerir
alternativas ainda mais intensamente. Para isso, precisamos de recursos:
a partir de 15 reais por mês você pode fazer parte de nossa rede. Veja como participar >>>
Aqui chegamos ao ponto nerval da filosofia moderna: a dicotomia entre sujeito e objeto, base das análises epistemológicas do período. Para assegurar a existência, para discernir entre o que posso conhecer do que não posso, entre o que é essencial e o que é contingente, entre o que vale a pena pesquisar e o que não vale, cria-se um sujeito, dotado de um aparato racional inato que capacita e condiciona sua apreensão da realidade. Este sujeito, a grosso modo, é o que podemos chamar de essencial na filosofia moderna, pois é ele quem carrega, agora, as características da essência que na filosofia Antiga estavam instituídas ao mundo das ideias: imaterial, racional, inato e incorpóreo. Este sujeito, dotado da razão como seu mais nobre instrumento, é o responsável por balizar toda forma de conhecimento, responsável por legitimar o que é digno de estudo do que não merece sequer citação em nota de rodapé. Este sujeito é universal, no que diz respeito ao seu alcance e ao seu estatuto. Nada escapa ao seu julgamento (e quando escapa, é porque foi previamente julgada como escapável), assim como suas características são universais, ou seja, dizem respeito a todos os sujeitos.
Por aí seguimos, até chegarmos às formas de pensar que vão combater esta ideia de essência ao inverter a pirâmide dos valores, colocando no topo, então, o material, o sensível, o contingente. E daí prosseguimos até a morte da metafísica, a morte da história, a morte do homem, atribuídas ao pensamento pós-estrutural, pós-moderno, pós-todas-essas-mortes-que-de-mortas-não-tem-nada. Neste resumo belicoso e injusto, o que busco enfatizar é a carreira do essencial na formatação de nossa subjetividade, e de como este conceito está arraigado a formas de pensar a essência como algo abstrato, racional, imaterial e, principalmente, incorpóreo. Dando mais um salto olímpico, o essencial, no fim das contas, parece ser aquilo que não possui corpo. Vamos nos deter um pouco sobre isso.
A ideia de essencial, na sua trajetória moderna, como vimos acima, sempre esteve acompanhada da ideia de um sujeito universal, e aqui vamos explorar melhor esta ideia. A modernidade não é apenas o local da virada epistemológica da filosofia. A modernidade é também o período da colonização, do tráfico de escravos, do nascimento do capitalismo, do estado moderno, da ciência moderna, e da imbricação de tudo isso na constituição do tal sujeito universal moderno. Este sujeito opera uma bifurcação no modo de pensar, e trabalha suas especulações filosóficas, científicas e políticas criando dualismos que, até hoje, vigoram. Este sujeito investiga a realidade na base dos dualismos mente e corpo, natureza e cultura, homem e animal, dentre tantos outros. É na forma com que concebe estes dualismos, em sua maneira de delimitar o que cada um dos termos destes binômios significam, que este sujeito segrega e exclui, apresentando-se como portador de algumas características – raciais, sexuais e de classe – e totalmente obstruído do que se presume – um sujeito imbuído de universalidade. O sujeito universal se constitui na base da exclusão, é o que vão apontar diversos pensadores pós-estruturais (Deleuze, Derrida, Butler, etc). Ao delimitar, por exemplo, o que distingue o homem do animal, usa como fronteira a capacidade de pensar, de chegar à essência através da articulação racional. Durante quase toda modernidade (ou porque não, durante toda ela) negrxs e mulheres foram zoofilizados, ou seja, tornados animais, destituídos da capacidade de pensar. O negro, no momento de sua criação como sujeito racial na escravidão moderna (teoria preconizada por Mbembe na Crítica da Razão Negra) é associado a besta de carga, sempre pronto ao trabalho braçal exaustivo, como qualquer animal domesticado, e totalmente despido de qualquer tipo de capacidade intelectual. Na caça às bruxas é a vez da mulher ser animalizada ao ser subtraída do aparato racional. Portanto, o tal sujeito universal é, na realidade, um conjunto de características que compõem o sujeito colonizador: branco, europeu, homem, heterossexual, imperialista.
Este sujeito universal, tido como o único tipo de sujeito possível, naturaliza tanto as suas características como as características do outro – de raça, gênero, sexo, etc – as invisibilizando e as tornando visível da maneira que melhor lhe convém, e assim chega até a construir um Jesus Cristo branco e europeu, feito a sua imagem e semelhança, fazendo com que todos acreditem na realidade deste Jesus ficcional. Sendo o único sujeito possível, já que o único dotado de um aparato racional capaz de discernir o essencial do contingente, o único capaz de pensar, a figura do homem per se, este sujeito europeu e eurocêntrico interage o tempo todo com a incorporalidade, já que os que possuem corpo são os outros, aqueles que não são capazes de pensar, nem de agir com moralidade, aqueles que são humanos apenas em sua morfologia antropocêntrica, pois são animais em sua essência. Incorporal, pois sujeito da razão, do transcendental, do abstrato e universal, ou seja: espírito, não matéria; mente, não corpo. Enquanto as mulheres e os negros são hipersexualizados, transformados em puro corpo, objetificados e destituídos de capacidade para o raciocínio intelectual, o branco é seu oposto, ou seja, é mente, inteligência, razão, sujeito.
2- O que é essencial, nesta discussão acerca dos trabalhadores essenciais, em tempos de pandemia?
Chegamos então a covid-19. Quem são, mesmo, os essenciais? São eles os incorpóreos, ou são eles os corpos mais vulneráveis, mais marcados pelas cicatrizes sempre abertas e reabertas de raça, sexo e classe? Na luta à pandemia, fica exposta uma fratura ética global: enquanto uns podem ficar em casa trabalhando, outros precisam ir à rua trabalhar. Deste ponto de vista, ficar confinado em casa, em trabalho remoto, é um luxo reservado a poucos. A grande maioria está confinada sem emprego, ou na rua, exposta. Com a exceção dos médicos e de outras poucas categorias profissionais – pois são a exceção que confirma a regra – a maior parte dos corpos são corpos negros e pobres. O que nos faz deduzir que talvez não sejam de fato essenciais, mas descartáveis. Não é coincidência o fato da primeira vítima fatal de coronavírus no Rio de Janeiro ter sido uma empregada doméstica, que contraiu a doença através do contato com sua patroa, moradora da zona sul carioca, recém-chegada da Itália. Estes corpos sempre foram sacrificados para sustentar a “nossa” sociedade. Digo corpos, e não seres, pois nesta lógica eles não possuem direito a ontologia alguma, são totalmente destituídos de humanidade, seres que não o são, e quando o são é apenas e na medida em que estão incluídos na roda mortal que faz girar a nossa sociedade ao serem excluídos, quando não assassinados.
O trabalho digital, home-office, nos ajuda a pensar esta imaterialidade pressuposta e desejada pelo sujeito universal. A economia do conhecimento, o trabalho digital, sempre foi a realização par excellence da lógica do sacrifício. Para eu comprar no meu iFood, sacrifico o informal que vai de bike do restaurante a minha casa. Quem é o essencial, mesmo? Nesse delírio funesto característico da sociedade capitalista, o mais importante é me digitalizar, me perder no mundo dos algoritmos e códigos binários, pois assim escapo ao destino de ter um corpo, e com ele todas suas possibilidades de marcação social e política – um corpo explorável, vulnerável, torturável, matável – que ignoro e deixo passar despercebido ao concluir meu pedido no app. Os assim chamados “essenciais” – agora entre aspas, pois é só comprimido entre elas que não invisibilizamos o masoquismo e a hipocrisia do termo em seu uso atual – não têm nada de digital, só participam da economia do conhecimento como precarizados, terceirizados, informalizados – a realidade dos essenciais é analógica, de carne e osso, e eles são servidos, nus e crus, para o banquete sacrificial do neoliberalismo.
Com a realidade inescapável do vírus, aumento minha imunidade sacrificando a vulnerabilidade do outro. Com a onipresença do vírus, defendo meu corpo (que agora existe mais do que nunca) usando como para-choque o corpo do outro (que na verdade, nunca exerceu outra funcionalidade).
A digitalização, a abstração, a imaterialidade, sempre foram as palavras de ordem na sociedade capitalista neoliberal, sonho e delírio de um sujeito particular que almeja o poder universal. Afinal, quem controla os fluxos de capital, se não os “oligopólios generalizados”, conceito criado por Samir Amin para agrupar todos aqueles que controlam as cadeias de valor e produção, as redes de investimento, seguradoras, previdências e bancos? Os poucos grupos que dividem, compartilham e controlam todas estas instituições. A financeirização sempre se fez por abstrata, usando a economia real concreta como escudo para então controlá-la. Operando por meio de números, códigos, algoritmos, equações e diagramáticas, a finanaceirização é o reino da abstração neoliberal, não possuindo lastro físico, dependendo apenas da ganância especulativa de seus investidores, livre para se autovalorizar até o infinito. Como dizia Gilles Deleuze, existem duas “formas-dinheiro”: aquela que usamos no dia-a-dia, como valor de troca, compra e venda, e aquela forma-dinheiro que é capital, ou seja, que tem poder político, que dita o que vai ser produzido, que controla as produções, que cria o valor em si – a financeirização por excelência, mas não só.
Fica evidente, portanto, que os essenciais são os capitalistas, co-propietários destes oligopólios, os que possuem dinheiro como capital, os mesmos que sucateiam o sistema de saúde, a aposentadoria, educação, e insaciáveis, vão sucatear cada vez mais os serviços sociais para assim conseguirem acumular ainda mais, numa aliança obscena com o Estado. Dívida pública, dívida privada, dívida de vida: na sociedade capitalista neoliberal cuja lógica é sacrificial, todos nós devemos nossa vida a eles. Quando nos impõem goela abaixo reformas neoliberais, por exemplo, a reforma da previdência, o que se destaca nela é exatamente a lógica do sacrifício, proclamada aos quatro ventos: vai ser difícil para todos, mas a reforma é necessária e inescapável, um remédio amargo, sem dúvida, mas que é preciso tomar – em nome da economia. É preciso se sacrificar agora para colher os frutos no futuro. Como todo ritual sacrificial é composto por aqueles que são autorizados a realizar o ritual (sacrificadores), e aqueles que são sacrificados, faz-se preponderante distinguir quem é quem no atual cenário.
Se enganam aqueles que acreditam que o vírus tem um poder a priori para mudar o mundo, para mudar nossas consciências, atitudes, enfim. Se enganam, pois se esquecem de uma característica fundacional do capitalismo: seu poder de transformar uma ameaça em uma oportunidade, um inimigo em um complacente. Quantas vezes a sociedade capitalista não enfrentou uma crise e saiu dela ainda mais forte?
O capital, que só almeja o lucro, é um comando, uma direção, uma ordem. O capital dita as regras, e os Estados colocam as regras em jogo, por meio de suas leis, políticas econômicas, políticas sociais. É o que Deleuze e Guattari chamam de axiomática do capital no Anti-Édipo. O Estado é um modo de realização do capital, um meio para tornar material a abstração da autovalorização do capital. É o Estado quem racializa, quem generifica, quem realiza a divisão social do trabalho, para assim fazer funcionar a lógica do lucro. Portanto, quando o estado te confina em casa, ele está salvando vidas? Essa não parece ser uma boa questão, por omitir mais do que expor. Quando ele te confina, bem ou mal, está tentando manter viva a lógica do capital, assim como os verdadeiros essenciais. Manter vivo o “nosso” sistema.
Outra lição que podemos tirar da axiomática do capital é a de que não há economia sem política. O conceito de Deleuze e Guattari salienta que não há mudança econômica, não há direito dos trabalhadores, não há estado de bem-estar social, se não houver luta. Toda conquista vem dos esforços para conquistá-la. A axiomática é exatamente a máquina social capitalista que apropria as vitórias – sejam elas da classe trabalhadora, dos oprimidos, subalternos – transformando-as em axiomas, ou seja, realizando a transmutação de poderosas possibilidades revolucionárias em novas engrenagens que alimentarão o sistema. Todo progresso que alcançamos nas lutas de classe, gênero, sexo e raça, todas as vitórias, de uma forma ou outra, estão abertas a cooptação pelo capital. Esse é um dos mecanismos pelo qual mantém-se vivo. E não será diferente no mundo pós-covid. Acredito que toda forma de avanço, em direção a uma sociedade mais justa e igualitária, é autojustificada pela melhora nas condições de vida daqueles que batalharam pelo avanço. Mas nem por isso o capitalismo se torna mais fraco, ou mais próximo de sua derrocada. O vírus, portanto, nada nos garante. Desemprego em massa, um sistema de saúde precário que não atende as necessidades do surto, as bolsas de valores despencando, um número inaceitável de mortes por dia – não há previsão possível sobre o futuro do capitalismo a partir do que fica exposto na pandemia, há apenas mais um diagnóstico do que já está óbvio: chegamos a esse ponto por conta das ações políticas que nos conduziram até aqui.
O que busco salientar, portanto, é que não esqueçamos do poder de ressurreição do capital, essa verdadeira fênix pós-apocalíptica, que quanto mais se prevê sua morte, mais em chamas fica. Mas, principalmente, não nos esqueçamos dos “essenciais”, que são assim chamados por manterem a roda do sistema capitalista girando e servindo aos essenciais de fato. Se o essencial é incorpóreo, portanto, livre em sua essência para se mover e manipular o que melhor lhe aprouver, o “essencial” está fadado ao peso incomensurável de seu corpo, afundando em terra movediça, “livre” – apenas e a cada dia mais – de seus direitos trabalhistas e humanos.
Gostou do texto? Contribua para manter e ampliar nosso jornalismo de profundidade: OutrosQuinhentos