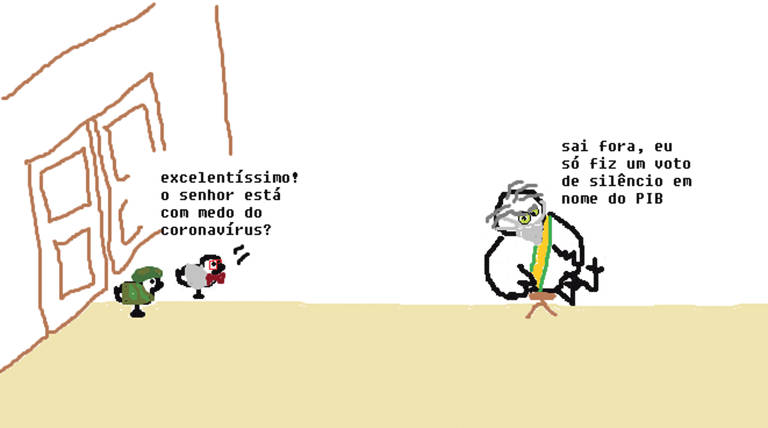Cena de "Temporada", de André Novais Oliveira (Foto: Divulgação)
“Você não vai fazer filme para agradar a minoria com dinheiro público. Todos estão livres para se expressar, contanto que busquem seus patrocínios na sociedade civil”. A frase foi proferida pela nova Secretária da Cultura, Regina Duarte, em entrevista a um canal de televisão. A ideia despertou repulsa ou aplausos, dependendo do grupo social. Mesmo assim, está longe de representar uma ideia única da ex-atriz global. Em 2017, Jair Bolsonaro afirmou na Paraíba: “Deus acima de tudo. Não tem essa historinha de Estado laico não. O Estado é cristão e a minoria que for contra, que se mude. As minorias têm que se curvar para as maiorias”. Ora, quem são, afinal, as minorias e as maiorias no Brasil? De que maneira este conceito pode ser aplicado ao cinema e à produção artística em geral? O que indicam as falas da Secretária e do Presidente, no atual contexto?
A histeria vigente nos meios de comunicação tem criado tamanho ruído na compreensão que talvez valha a pena dar um passo atrás e tentar esmiuçar estes conceitos. Primeiro: quem são os grupos minoritários? Uma resposta comum se encontra na análise quantitativa. As minorias seriam aquelas existentes em menor quantidade, caso em que negros, mulheres e pobres se converteriam em maioria, ao contrário dos homens brancos, privilegiados, os empresários, os CEOs, os grandes diretores de cinema, os produtores que controlam blockbusters. A noção numérica de minoria costuma ser utilizada por grupos conservadores na tentativa de desqualificar a luta pela representatividade. Afinal, se há mais mulheres de acordo com os estudos demográficos, como ousam os levantes femininos se considerarem desprivilegiados? Se há mais negros, por que reivindicariam mais direitos? A sua própria existência em maior quantidade constituiria uma prova darwinista de sobrevivência social, certo?
O argumento pode ser facilmente desmontado pela noção de maioria enquanto aquela detentora do poder – fator que, em qualquer sociedade capitalista ou desigual, concentra-se na mão de poucos. Minorias seriam, então, aquelas cujos direitos não são aplicados, sejam eles os direitos à moradia, à cidadania, ao estudo, à segurança, à cultura e à arte. Minoria seria todo grupo social fragilizado, perseguido por demais grupos organizados, financeiramente estruturados e capazes de impor suas vontades aos demais. Trata-se das mulheres, dos negros, dos indivíduos LGBTQI+, dos indígenas, dos deficientes físicos e mentais etc., ou seja, aqueles que raramente conquistam cargos públicos, cujas vozes não são representadas pelas leis (ou cujas leis protegendo-os não são aplicadas corretamente), cujos corpos não transitam livremente pelas ruas, e cujos rostos não aparecem nos filmes. A minoria seria aquela que, mesmo em grande quantidade, permanece invisível em meio à distribuição de riquezas. Ao mesmo tempo, torna-se indispensável socialmente enquanto minoria: sua força de trabalho, barata e vulnerável, serve a quem quiser explorá-la.
Aplicadas ao cinema, estas noções transmitiriam primeiro a ideia de que o filme minoritário corresponde ao produto de nicho, que agrada a poucas pessoas. É sempre melhor agradar mais pessoas do que agradar menos pessoas, certo? No entanto, este raciocínio constitui uma falácia em si. Os motivos pelos quais um filme agrada mais do que outro dependem tanto de suas qualidades intrínsecas quanto de circunstâncias externas à obra, a exemplo do número de salas em que se encontra, o aparato de marketing de que dispõe, a quantidade de semanas que permanece em cartaz, o elenco, as críticas, a adequação aos temas do momento. O fato de uma comédia popular atingir dois milhões de espectadores, por exemplo, não significa que ela agrade à maioria, ao contrário de um filme que conquistou dez mil pessoas. Esta quantia mede o número de ingressos vendidos, não a taxa de satisfação pós-sessão.
A minoria poderia ser proporcional, de acordo com a média de espectadores por sala: enquanto alguns filmes brasileiros adaptados de programas de televisão estreiam em 400 salas, filmes ditos “de arte” chegam a 20, 30 salas. Quando se observa a média de espectadores por sala, ou seja, a ocupação em cada cinema – dados levantados por empresas como Filme B e Rentrak – percebe-se com frequência uma lotação maior nos cinemas de rua, aqueles que exibem as produções de mostras e festivais de cinema. Além disso, o que se considerava consensualmente como cinema de maiorias – produções leves estreladas por humoristas famosos do star system televisivo – sofreram uma queda brutal nas bilheterias recentemente. Não se aceitam devoluções, comédia adaptada de uma fórmula de sucesso e estrelada por Leandro Hassum, registrou 300 mil espectadores, enquanto Bacurau superou os 700 mil espectadores. Seria o filme de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, então, o real merecedor de dinheiro público, segundo Regina Duarte?
Aplicada a noção de minoria enquanto detentora de poder, chegaríamos a um cinema de (ou sobre) mulheres, negros, LGBTQI+, indígenas etc. De acordo com as vozes conservadores, que pregam a submissão da mulher ao homem, dos negros aos brancos, dos gays aos heterossexuais, o cinema retratando estes grupos sociais seria “dispensável”, ou irrelevante em tempos de austeridade fiscal. Regina Duarte, Jair Bolsonaro, Damares Alves e Osmar Terra foram alguns dos nomes do governo a pregar um cinema funcional, cuja responsabilidade seria transmitir valores cristãos e ensinar as palavras da Bíblia aos espectadores. No entanto, documentários de pouco alcance numérico, em festivais e, portanto, em público e mensagem, como as produções de Josias Teófilo, são encorajados por Olavo de Carvalho, guru intelectual da direita. A produção independente do MBL visando defender o golpe contra Dilma tampouco atingiu número expressivo de pessoas, nem mesmo provocou debate fora de sua bolha. Produções bíblicas independentes como O filho de Deus ou Barrabás fracassaram em termos de público e crítica. Não seriam estes filmes uma representação do cinema de nicho, alternativo – um cinema de minorias?
Ora, a lógica da minoria não se sustenta enquanto política devido à sua permeabilidade e sua conveniente indefinição – como cabe a qualquer discurso de fundo religioso. Minoria representa qualquer grupo diferente de mim. Minoria é o outro, meu inimigo, aquele que não me apoia. Certo, militares, evangélicos e a extrema-direita ocupam o poder hoje. No entanto, mesmo quando estavam distantes dos maiores cargos do governo, não reivindicavam direitos por constituírem uma minoria social, e sim por acreditarem que o Estado lhes devia isso – vide a crescente isenção de impostos concedida a Igrejas. Nada define melhor as classes privilegiadas do que a crença profunda no direito de ocupar esta posição, afirmavam os sociólogos Monique Pinçon-Charlot e Michel Pinçon. A maioria consiste, em primeiro lugar, numa crença de superioridade moral. Acredita-se ser mais merecedor de determinar como a sociedade deve ser, e que tipo de arte deve ser produzida. Neste sentido, o filme bom (ou o filme pertinente, digno de receber recursos públicos) não será aquele que agradar à maioria, nem o preferido dos críticos. Ele será qualquer um julgado apropriado pelas “instâncias legitimadoras do poder”, do blockbuster bíblico financiado pela Igreja preferida do presidente ao menor documentário caseiro.
A formulação segundo a qual os filmes minoritários não serão proibidos, cabendo a cada um buscar seus recursos na sociedade civil, revela-se particularmente perversa. Sabendo que a proibição simples das obras seria considerada censura – algo que o presidente já tentou aplicar, tanto para performances envolvendo nudez quanto na produção de séries de temática LGBTQI+ -, proíbe-se o financiamento público das obras, de modo que não sejam realizadas por falta de recursos. Ao invés de roubar o pão da boca, retira-se o dinheiro que permitiria comprar o pão. O resultado, em ambos os casos, é a fome. Obviamente, como ressaltou o pesquisador Marcelo Ikeda, especialista nos mecanismos de financiamento do audiovisual brasileiro, havia cinema antes da Ancine, e havia cinema antes da Lei Setorial do Audiovisual, e estes fatores precisam ser levados em consideração. As obras ousadas, progressistas, inovadoras, premiadas – aquelas selecionadas anualmente nos maiores festivais do mundo, como Cannes, Berlim e Veneza, e premiadas no Oscar, como Democracia em vertigem – continuarão a existir. Mas talvez elas aconteçam em menor quantidade, em tempo mais espaçado, e precisem se adequar à precariedade de condições.
O cinema brasileiro se encaminhava para um refinamento estético ímpar, que se estrangula devido à ausência de recursos. Certo, durante a ditadura militar, produziu-se obras excelentes que ou burlavam o governo autoritário, ou foram proibidas inicialmente, para eventualmente serem liberadas anos mais tarde. Muitos artistas se exilaram para continuar produzindo. O cinema brasileiro não parou, mas em que condições precisou se manter vivo? Não se pode romantizar a precariedade da produção. Os mecanismos de financiamento coletivo que permitiram a realização do Festival do Rio e do Anima Mundi em 2019, as doações generosas de mecenas para a reconstrução do Museu Nacional constituem atos isolados, com os quais não se podem contar para uma produção contínua. Outros mecanismos de fomento poderiam ser implementados no lugar daqueles existentes, mas este não parece ser o caminho adotado pelo governo federal, que prefere a morte por inanição.
Além disso, a ideia de que o presidente e a secretária da Cultura decidam por si próprios quais filmes merecem existir ou não – ou ainda, quais merecem o dinheiro público, e quais precisarão se virar sozinhos – constitui evidente ato de censura, além de filtro ideológico. Em nenhum país democrático a autoridade máxima decide as obras que lhe convém. Esta decisão caberia a organismos externos – papel desempenhado, até recentemente, pela Ancine. Ao mesmo tempo, o discurso de que não haverá financiamento público para certa forma de cinema corresponde à ideia de que o repasse de recursos representava um favor, uma generosidade dos governos anteriores, podendo ser suspenso em tempos de austeridade. Entretanto, o governo tem por dever financiar a cultura, e isso ocorre mesmo nas nações mais liberais e capitalistas, como os Estados Unidos, que concedem isenções de impostos para facilitar a produção de obras locais. O desprezo por certa forma de cinema constitui óbvia retaliação àqueles que se impuseram, e ainda se impõem, às ordens dos autocratas. O atual líder acredita que, sendo eleito pela maioria numérica, pode governar apenas para esta maioria entendida como como aquela detentora de uma superioridade moral. Ora, numa democracia representativa, o processo eleitoral determina o escolhido pela maioria, sendo encarregado então de governar para todos, aliados e opositores.
Na atual gestão cultural, opera-se como numa empresa extremamente vertical, uma família patriarcal ou mesmo uma igreja – modelos estruturais considerados exemplares pela (extrema-)direita, porém incompatíveis com o governo de uma nação múltipla e democrática. Um homem dá as ordens, e dele emana a verdade e a sabedoria. Cabe aos demais seguirem, acatarem e se calarem, porque o pai/marido/patrão/pastor sabe o que diz, e se hoje ocupa o alto cargo em que se encontra, certamente o fez por merecer. Acredita-se nas diretrizes adotadas pelo homem de poder – branco, heterossexual, reacionário –, acatando com as diretrizes por uma questão de fé. O presidente se reveste do manto simbólico de divindade, razão pela qual qualquer questionamento se torna heresia para os seguidores mais fiéis.
É uma questão de crença, afinal, e não apenas a crença cristã, bíblica, mas a crença na figura de uma pessoa salvadora, aquele que precisa de torcida a favor, precisa que deixem fazer seu trabalho à vontade, sem empecilhos de investigações, sem perguntas inquisidoras da imprensa, sem gente gritando pelo direito de ver mulheres negras no mercado de trabalho (e nas telas do cinema), povos indígenas em suas terras (e nas telas do cinema), homens gays em segurança nas ruas (e nas telas do cinema). A maioria sou eu, a minoria são vocês. A eleição presidencial, por mais que tenha prendido o principal candidato em processo bastante questionável, acrescenta certo verniz de meritocracia. Sendo o presidente o homem conservador, o restaurador da família e da moral, como não caberia a ele determinar que filmes podem ou não podem ser feitos?
No entanto, a minoria não pretende se curvar, apesar dos golpes da polícia, dos cortes no financiamento, das tentativas de censura. Será a oposição que lutará pela realização das séries de temática LGBTQI+, pela produção de uma série sobre Marielle Franco de autoria de diretoras negras, pelos filmes indígenas, pelos documentários políticos capazes de escancarar nossa política ao mundo. As vozes contrárias exigem e exigirão que o atual presidente governe também para elas – que tenham votado nele ou não. O papel da cidadania é cobrar de seu líder o cumprimento das regras mínimas da democracia. O cinema pode ter mudado das produções de Glauber Rocha aos filmes de André Novais Oliveira, do cinema marginal de Carlos Reichenbach à poesia livre de Grace Passô. Mudamos, mas continuamos sendo o outro, o diferente, os corpos que a direita desprezava e a extrema-direita combate. O cinema da minoria se torna aquele de difícil definição, porém de fácil reconhecimento. Basta ver para onde estão apontadas as armas.
Bruno Carmelo é crítico de cinema, mestre em Teoria
de Cinema pela Universidade Sorbonne Nouvelle – Paris III, membro da
Associação Brasileira de Críticos de Cinema (ABRACCINE ), professor de
cursos sobre o audiovisual e editor do Papo de Cinema. Escreve às
segundas.
(Publicado originalmente no site da revista Cult)
(Publicado originalmente no site da revista Cult)