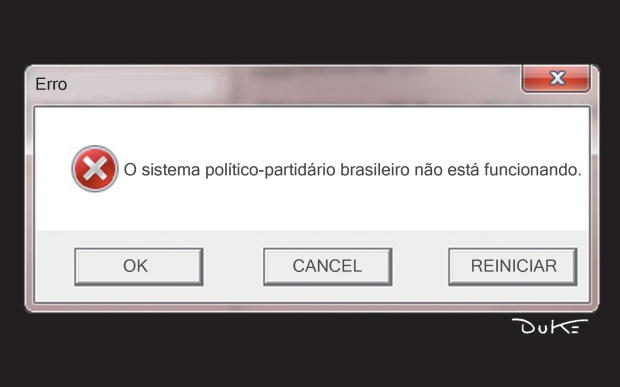Mostra Contemporânea Internacional de Cinema Ecofalante não poderia ter sido mais feliz em sua escolha ao destacar um tema tão crucial para toda a humanidade hoje: o trabalho
26 de abril de 2017

Nas últimas décadas do século passado floresceram muitos mitos acerca do trabalho. Com o avanço das tecnologias de informação e comunicação não foram poucos os que passaram a acreditar que uma nova era de felicidade se iniciava: trabalho online, digital, era informacional, enfim, adentrávamos finalmente o reino da felicidade. O capital global só precisava de um novo maquinário, agora descoberto.
O mundo do labor finalmente superava sua dimensão de sofrimento. A sociedade digitalizada e tecnologizada nos levaria ao paraíso. Sem tripalium e quiçá até mesmo sem trabalho. O mito eurocêntrico, que aqui foi repetido sem mediação e com pouca reflexão, parecia finalmente florescer.
Mas sabemos que o mundo real é muito diverso do seu desenho ideal. E a Mostra Contemporânea Internacional da Ecofalante não poderia ter sido mais feliz em sua escolha. Primeiro por destacar um tema crucial para toda a humanidade hoje: o trabalho. Segundo, por oferecer ao público uma série emblemática de filmes e documentários que além de contraditar e fazer desmoronar os mitos, oferece um mosaico do mundo do trabalho real que hoje se expande em escala planetária.
Se o universo do trabalho online e digital não para de se expandir em todos os cantos do mundo, é vital recordar que o primeiro passo para se chegar ao iPhone, iPad ou assemelhados, começa com a extração de minério, sem o qual o dito cujo – o celular – não pode ser produzido. E as minas de carvão mineral da China e em tantos outros países mostram que o ponto de partida do trabalho digital se encontra no brutal trabalho realizado pelos mineiros. Da extração até sua ebulição, assim caminha o trabalho no inferno mineral.
E é justamente esse o tema de Gigante, um filme devastador. Do formigueiro formado pelos caminhões à entrada das minas, até o trabalho sob temperatura mais que desertificada, Gigante mostra como as minas são uma verdadeira sucursal do inferno. Acidentes, contaminação, devastação do corpo produtivo, mortes – tudo isso ocorre na sociedade dos que imaginaram que as tecnologias de informação eliminariam o trabalho de mutilação.
A metáfora do diretor Zhao Liang mostra que a China das grandes e globais corporações não existe sem o trabalho brutal e manual em seus rincões e grotões. Ainda que tenha cidades fantasmas…
Consumido, de Richard Seymour, segue o mesmo percurso. Começa com o trabalho nas minas, passa pelo setor têxtil, avança para o espaço da produção digital, não sem mostrar o vilipêndio do trabalho imigrante, este exponencial segmento do proletariado global que é, simultânea e contraditoriamente, tão imprescindível quanto supérfluo, para o sistema do capital.
Mas se o mundo do trabalho digital começa no universo mineral, também na planta produtiva automatizada dos celulares e microeletrônicos viceja a exploração intensificada do labor.
Não é por acaso que o primeiro ministro da Índia propôs, pouco tempo atrás, aquele que deve ser o slogan do segundo país gigante do Oriente: assim como a China se celebrizou pelo Made in China, a Índia deve celebrizar-se pelo Make in Índia, uma vez que a exploração do trabalho do operariado chinês é café pequeno frente ao vilipêndio da superexploração no país das classes e das castas, dos bilionários e dos mais que miseráveis.
E é esse o mote do explosivo Máquinas, que nos oferece uma fotografia direta do mundo também infernal do trabalho nas indústrias de tingimento de tecidos, onde homens, mulheres, crianças, todos e todas, laboram diuturnamente para dar concretude ao Make in Índia. Jornadas de 12 horas ou mais, turnos infindáveis, locais de trabalhos indescritíveis e distâncias imensas a serem percorridas entre casa e trabalho: esse é o cotidiano vivenciado pelo povo indiano que consegue trabalho. Na outra ponta, um patronato invisível que sabe comandar com controle bem visível, através de panópticos televisivos. Tudo isso e muito mais aparece na peça primorosa do diretor Rahul Jain.
O operário que carrega galões de 220 kg e diz que seu trabalho é também um “exercício intelectual, cerebral”, os banhos para se limpar da sujeira diária das tintas; as mãos devastadas pelo calor das caldeiras; os corpos que são tragados pelas máquinas; as múltiplas formas de resistência e rebeldia do trabalho até a repressão do empresariado selvagem (que sempre quer saber “quem é o líder?”), Máquinas nos mostra um pouco (ou muito) de tudo.
E já que estamos falando do mundo asiático, Complexo Fabril, da Coreia do Sul, é também um primor. O mundo do trabalho feminino nos é apresentado em seu modo afetivo, delicado, qualificado, explosivo, forte, indignado. As opressões vão, uma a uma, sendo enfileiradas: demissões, humilhações, condições sub-humanas, resistências, tanto as individuais como as coletivas. O mito do trabalho na Samsung, agudamente denunciado, com seus adoecimentos e contaminações: com os assédios, baixos salários, superexploração e sempre forte repressão. As dificuldades para organizar sindicatos, o acontecimento das lutas das mulheres terceirizadas, suas greves, seus confrontos, como o May Day, dia de luta das trabalhadoras para denunciar suas condições nefastas de trabalho, a virulência policial, os assédios, os vilipêndios. Mas também as flores na vitória!
As transversalidades entre classe, gênero, etnia, geração, tudo aparece nas fábricas complexas. Nos call centers, na indústria de alimentos (corte de aves), na indústria têxtil, nos hipermercados. As tantas cenas presentes no universo feminino fazem desmoronar os mitos dos trabalhos brandos, tecnologizados, assépticos.
Mas que não se pense que essa seja uma realidade só do Oriente, do mundo asiático.
Nada disso. Embora na (nova?) divisão internacional do trabalho a indústria considerada “limpa” esteja preferencialmente no Norte do mundo e a indústria “suja”, poluidora e ainda mais destrutiva se encontre centralmente no Sul, a globalização nos leva a constatar que, assim como o Norte se esparrama pelo Sul, este também invade o centro do capitalismo tido como desenvolvido.
E Algo de Grandioso é exemplo exatamente disto, ao apresentar a realidade do trabalho na indústria da construção civil na França. A partir de cenas e depoimentos, a sensibilidade do trabalho vai transbordando. Tragédias, esperanças, expectativas, solidariedade, amizade – tudo isso aparece no mundo do trabalho duro, violento, perigoso da construção civil.
Chuva, tempestade, concretagem, acidentes, as cenas se sequenciam, mostrando como esse ramo combina o receituário taylorista do trabalho prescrito com a pragmática do envolvimento e manipulação que herdamos do toyotismo. Do primeiro, o taylorismo, vemos a preservação do despotismo e do segundo, o toyotismo, o exercício de fazer um pouco de tudo no trabalho, o que, além de aumentar a exploração, amplia os riscos de acidentes, em um setor onde ele já é de alta intensidade.
Brumário enfeixa o ciclo com um paralelismo também emblemático: reconstitui a história do trabalho em uma derradeira mina de carvão na França, que teve suas atividades encerradas. E apresenta também a história de uma jovem trabalhadora, filha de um operário da mineração, que trabalha no setor de serviços, em uma empresa de limpeza.
A dupla face do trabalho é exposta, com suas diferenças tão marcantes, que configuram as tantas heterogeneidades e fragmentações que povoam a classe-que-vive-do-trabalho em sua nova morfologia atual. A dos mineiros, quase todos homens, com suas histórias, combates, solidariedades, medos, riscos, adoecimentos. E a de uma jovem trabalhadora que vivencia o trabalho fragmentado, separado, individualizado, sem passado, sem projeto para o futuro, oferecendo uma bela pintura do passado europeu e sua nostalgia e do futuro nublado desse novo proletariado.
A vida na mina é uma vivência em uma cidade submersa. A escuridão, o risco do desmoronamento, o barulho repetitivo do subsolo mineiro que não tem luas, só luzes artificiais. (Um parêntese: uma única vez eu entrei, como sociólogo do trabalho, em uma mina de carvão na cidade de Criciúma, em Santa Catarina. Lá em baixo, não via a hora de voltar para o mundo visível e plano.)
A condição de mineiro, relata um dos depoentes, marca indelevelmente todas as suas outras dimensões da vida: a social, a família, a cultura, a política. A transmissão do savoir faire, de uma geração a outra, a solidão com o fim da mina e seu fechamento, as lutas e conquistas obtidas: e, posteriormente, com a aposentadoria ou fechamento da mina, vem a nostalgia, o desencanto.
A globalização levou indelevelmente ao fechamento da última mina de carvão na França, diz o depoimento do operário da mineração. Na nova divisão internacional do trabalho, isso passou a ser feito só no Sul do mundo. Na Colômbia, Chile, Venezuela, China, Congo etc.
Outro depoimento operário é cáustico: nestes países eles trabalham muito mais e ganham pouco. Se um dia a mina voltar para a França, acrescenta, será sob o controle da China…
A nostalgia em relação ao passado e o desencanto frente ao presente se encontram.
No outro polo do mundo do trabalho, a jovem trabalhadora, filha de um mineiro, recorda do passado de lutas do pai e de seu presente de isolamento. Seu trabalho individualizado, des-sociabilizado, sem a convivência com outros trabalhadores. Esse novo proletariado de serviços aparece neste personagem como descrente em relação ao futuro, resignado e descontente em relação ao presente.
Minas e escritórios, trabalho “sujo” e trabalho “limpo”, trabalho coletivo e labor invisibilizado, ontem e hoje, estes dois mundos do trabalho parecem desconectados. A jovem se recorda do pai e de suas lutas e não as vê no seu presente. Em seu tempo livre, cuida da casa. É uma jovem proletária sem a possibilidade de constituir uma prole, pois sua insegurança no trabalho não incentiva em sua vida reprodutiva.
Veja-se a experiência britânica do zero hour contract, este o novo sonho do empresariado do trabalho intermitente. É uma espécie de trabalho sem contrato, onde não há horas a cumprir e nem direitos a seguir. Quando há trabalho, basta uma chamada e o trabalhador/a deve estar online para atender o trabalho intermitente. E as corporações globais se aproveitam: expande-se a “uberização”, amplia-se a “pejotização”, florescendo uma nova modalidade de trabalho: o escravo digital. Tudo isso para disfarçar o assalariamento do trabalho.
Apesar de defenderem a “responsabilidade social e ambiental”, incontáveis corporações praticam mesmo a informalidade ampliada, a flexibilidade desmedida e a precarização acentuada. A exceção vai se tornando regra geral. Aqui e alhures.
Ficam muitas indagações: que estranho mito foi esse do fim do trabalho? Terá sido um sonho eurocêntrico? Por que o labor humano tem sido, predominantemente, espaço de sujeição, sofrimento, desumanização e precarização, numa era em que muitos imaginavam uma proximidade celestial? E ainda mais: por que, apesar de tudo isso, o trabalho carrega consigo coágulos de sociabilidade?
Estas e outras tantas indagações a 6ª Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental, nesta fotografia sem retoques do trabalho global, nos ajuda a refletir.
*Ricardo Antunes é Professor Titular de Sociologia do Trabalho na UNICAMP. Autor, entre outros livros, de Os Sentidos do Trabalho (Boitempo, publicado também na Itália, Inglaterra/Holanda, EUA, Portugal, Índia e Argentina); Adeus ao Trabalho? (Ed. Cortez, publicado também na Itália, Espanha, Argentina, Colômbia e Venezuela) e Riqueza e Miséria do Trabalho no Brasil (organizador, Boitempo), Vol. I, II e II. Coordena as Coleções Mundo do Trabalho, pela Boitempo e Trabalho e Emancipação, pela Expressão Popular e atualmente é Visiting Professor na Universidade Ca’Foscari em Veneza (Itália).