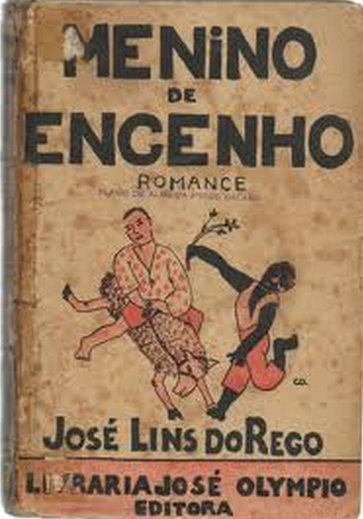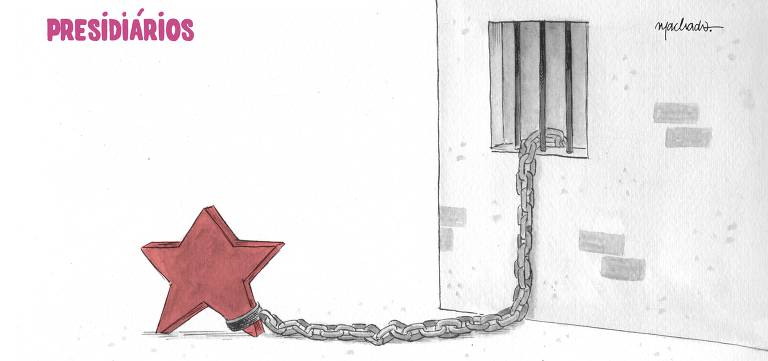Por Alessandro Francisco
Em 8 de fevereiro deste ano, foi publicado, pelas Éditions Gallimard, mais um inédito de
Michel Foucault (1926-1984):
As confissões da carne (
Les aveux de la chair). Trata-se do quarto volume de seu projeto de uma
História da sexualidade.
O texto, na versão datilografada, fora depositado na editora no outono de 1982 e, ainda que Foucault tenha falecido em 1984, não fora publicado. Já no depósito, ele advertiu a editora que a publicação não seria imediata, pois havia outro escrito que o devia preceder. Este foi desdobrado em dois volumes – 2 e 3, respectivamente, da mesma
História da sexualidade:
O uso dos prazeres e
O cuidado de si, – publicados em 1984, pouco antes de sua morte. O primeiro volume,
A vontade de saber, havia sido publicado em 1976, oito anos antes.
Para o estabelecimento do livro, foi realizado um verdadeiro trabalho de pesquisa.
Frédéric Gros, que se dedica ao estudo do pensamento de Michel Foucault ao menos desde seu doutoramento, é o responsável por esta edição. Gros não somente recorreu à versão datilografada do texto, mas também ao manuscrito, depositado na
Biblioteca Nacional da França por
Daniel Defert – companheiro e um dos herdeiros de Foucault –, em 2014, dois anos após o Ministério da Cultura francês classificar a “obra” de Michel Foucault como Tesouro Nacional.
As confissões da carne, que deve ter em breve uma tradução para a língua portuguesa, abarca a análise de discursos de filósofos dos dois primeiros séculos de nossa era, tais como Sêneca (4 a.C. – 65 d.C.) e Caio Musonio Rufo (25 d.C. – 95 d.C.), passando pelo cristianismo de Clemente de Alexandria (150 d.C. – 215 d.C.) e de Tertuliano (160 d.C. – 220 d.C.), atravessando os discursos de exegetas cristãos como Gregório de Nissa (330 d.C. – 395 d.C.), Basílio de Ancira (
ca. 336 d.C. –
ca. 362 d.C.) e João Crisóstomo (347 d.C. – 407 d.C.), alcançando, por fim, Agostinho (354 d.C. -430 d.C.).
Em sua análise, Michel Foucault aborda, dentre outros, temas como o matrimônio e as relações entre esposos, em especial a relação sexual; o batismo e toda uma série de procedimentos que o preparavam no âmbito do chamado cristianismo primitivo; a segunda penitência, oferecida aos cristãos como segundo recurso após o batismo; a virgindade; e a concupiscência.
Neste escrito, Foucault nos faz ver, por exemplo, que os problemas que envolviam a prática da virgindade se transferem de um quadro negativo, presente em alguns tratados da Antiguidade, em que ela era concebida como interdição ao ato sexual, para um quadro positivo, em que se faz o elogio da castidade como distinção do “sujeito”, na medida em que sua prática o aproxima do estado paradisíaco. Toda esta discussão perpassa tratados destinados aos monges, que já praticavam a castidade – sequer mencionando a relação sexual ou a dita fornicação – e outros tantos que visavam a difundir a “vida cristã” a toda uma comunidade.
No dito cristianismo primitivo, o matrimônio (relação entre esposos) passa de objeto de recusa a “bem positivo” sobre o qual se deve estar atento e que, portanto, deve obedecer às prescrições de um certo modo de vida cristão, de uma “vida verdadeira”. O matrimônio se torna elemento que requer gestão.
Batismo, prática da virgindade, matrimônio, todos envolviam uma tecnologia, isto é, um conjunto amplo de procedimentos preparatórios, de um lado, e permanentes, de outro. O exame de consciência era um deles: uma contínua vigilância do pensamento que, já nos exegetas dos séculos 3 e 4 d.C., tinha por finalidade fazer o “sujeito” acessar uma verdade interior, os “segredos do coração”, para que fosse purificado.
Não é diferente o caso das chamadas “provas de exorcismo”: para aceder à iluminação se deve extirpar os males – neste caso, os pecados –, sendo a fornicação o pior de todos, pois, conforme a leitura que Foucault faz de diversos tratados dos primeiros séculos de nossa era, ela seria o primeiro dos males na ordem causal. Todos os pecados estariam apoiados na fornicação, pois é ela que enraíza o “sujeito” no mundo terreno.
No que se refere à confissão, são ainda as noções de purificação e de iluminação que estão em jogo. Uma vez realizado um exame da própria consciência, por meio de contínua vigilância dos pensamentos – não basta ocupar-se do corpo, é preciso buscar igualmente a limpeza da alma –, é necessário enunciar as faltas cometidas e aquelas presentes “em ato” na consciência. Sim! Segundo diversos tratados antigos, o pecado reside em ato nos pensamentos, daí ser indispensável um incessante exame de consciência.
A penitência, por sua vez, também é ato de purificação e é evocada, por vezes, não como uma simples prática, mas como uma vida inteiramente penitente. Se o batismo lava e purifica pela água, a penitência não é distinta: o faz pelas lágrimas do “sujeito”. Se, de uma parte, ela requisitava práticas privadas – a penitência tem lugar, por exemplo, a partir da confissão realizada privativamente a um sacerdote –, de outra, exigia a manifestação pública do “estado de pecador” do catecúmeno. Exemplo disso é o rito de andar vestido com um saco e coberto de cinzas, referência à Bíblia (Ester 4,1).
Todos, como vimos, são procedimentos que lavam, purificam o corpo e a alma, conduzem à iluminação e, portanto, a uma relação direta da alma com Deus. Entretanto, ainda na esfera do dito cristianismo primitivo tal como analisado por Foucault, nada se pode fazer sem uma adequada direção de consciência. Toda esta tecnologia – esta coleção de técnicas, portanto – deve se dar no quadro da orientação de um mestre. Esta direção de consciência requer a renúncia total da própria vontade e se funda na obediência global ao mestre-diretor.
É, então, que, nos últimos dois capítulos do texto, Foucault se debruça sobre escritos de Agostinho, na passagem do século 4 para o 5 d.C.. Aí, o problema da concupiscência ganha uma nova configuração. Antes do aparecimento daquilo que Foucault denomina “teoria da
libido”, presente no discurso de Agostinho, a atração entre os sexos se dava pela manifestação de um desejo natural que, exercido pelo corpo, confundia a alma e a fazia pesar. A
libido – concebida como desejo, vontade, prazer, se considerarmos o complexo composto por seus sentidos antigos – aparece, no exemplo do discurso de João Cassiano (360 d.C. – 435 d.C.), como algo que se desdobra nas profundezas da alma. Assim, pouco antes de Agostinho e em alguns de seus contemporâneos, o problema da
libido se organizava no quadro de uma partição alma-corpo: a concupiscência está inscrita na alma e é motivada pelo corpo.
Consideremos ainda que alguns pensadores anteriores a Agostinho defendiam que o ato sexual não era realizado no Paraíso, antes da queda, enquanto, para este, o ato era efetuado, mas sem concupiscência, sem
libido. Isto promove a transformação de todo o complexo de ingredientes presentes no discurso ocidental.
No discurso de Agostinho, a
libido não aparece mais assentada na distinção alma-corpo, mas fundada no próprio “sujeito”: é somente após a queda que o ato sexual se torna libidinoso. A
libido, segundo Agostinho, habita a natureza do próprio homem, o modo como ele faz uso de sua vontade. Ele não deve desejar o que quer a concupiscência que nele reside. O homem surge, assim, no discurso de Agostinho, como “sujeito de desejo”, de modo que sua vontade não se relaciona diretamente com o objeto desejado, mas com o desejo inscrito em seu próprio ser. Segundo esta compreensão, no ato sexual, pode-se buscar a satisfação da concupiscência ou conceber filhos. Destarte, conforme o discurso de Agostinho, a
libido estará sempre presente, pois faz parte da natureza decaída do homem. Cabe ao “sujeito” querer o que ela quer ou fazer outro uso de sua vontade.
O escrito póstumo de Michel Foucault é de uma riqueza sem tamanho, trazendo elementos que interessam, dentre outras áreas, à História, à Sociologia, à Antropologia, à Psicologia, ao Direito, à Teologia. Não podemos menosprezar a relevância que os temas abordados suscitarão no campo da prática psicanalítica. Entretanto, devemos destacar que, numa perspectiva dita foucaultiana, seu escrito contribui menos a desenvolver a Psicanálise como prática terapêutica e mais a compreender os ingredientes que tornaram possível o aparecimento do discurso psicanalítico. Estaria a psicanálise, ainda hoje, devotada a analisar um certo sujeito cuja emergência se faz ver, até certo ponto, já na passagem entre os séculos 4 e 5 de nossa era?
No que compete à filosofia, o texto aporta muitos elementos. Mormente no quadro dos problemas que envolvem as relações entre a subjetividade e a verdade. Os inúmeros procedimentos de purificação-iluminação presentes no chamado cristianismo primitivo não somente permitem ao “sujeito” uma relação com Deus, e, portanto, um certo modo de relação com a verdade divina, mas também o acesso à sua própria verdade, incrustada – segundo os discursos dos primeiros séculos de nossa era – em nossos pensamentos. É preciso vigiar os pensamentos, extirpar os males, purificar-se pelas águas do batismo e das lágrimas, confessar a verdade mais secreta àquele que dirige nossa consciência, para alcançar a mais íntima e própria verdade de si. Triste percurso trilhado pela história da experiência da subjetividade ocidental, cujos resquícios ainda ressoam aqui e ali em nossos saberes e em nossas práticas.
Por fim, para atenuar esta discussão um tanto quanto densa, não sem recorrer à tradição penitencial em que os cristãos se cobriam de cinzas – é preciso lembrar que estas permanecem presentes na chamada
Quarta-feira de cinzas –, partilho, aqui, uma curiosidade. Em julho de 1977, as mesmas cinzas foram evocadas ao final de uma sessão organizada por normalistas – como são chamados os estudantes da École Normale Supérieure de Paris –, com a presença de Michel Foucault. A reunião reservada – publicada em forma de texto originalmente num boletim freudiano francês e posteriormente na série que reúne alguns ditos e escritos de Michel Foucault – tinha por objetivo discutir o primeiro volume da
História da sexualidade, publicado um ano antes. Na ocasião, um dos normalistas era o querido amigo e mestre Alain Grosrichard – atualmente Professor Emérito da Universidade de Genebra, onde sucedeu Jean Starobinski –, que recordou a citada reunião ainda em março deste ano quando estivemos juntos.
Na época, próximo de Foucault e conhecendo seu senso humor, Alain Grosrichard não perdeu a oportunidade de lançar a isca: em meio a uma discussão sobre o desenvolvimento de métodos contraceptivos no século 18, ele diz “É a época em que se inventa a mamadeira moderna”. Foucault exclama: “Não conheço a data”. E Grosrichard, por seu turno, assevera: “1786”, indicando seu inventor italiano e a tradução francesa do texto. Num clima de companheirismo entre normalistas, Foucault arremata “Renuncio a todas as minhas funções públicas e privadas! A vergonha se abate sobre mim!
Cubro-me de cinzas! [grifo nosso] Eu não sabia a data da mamadeira!”. E a sessão se encerra numa sinfonia de risos.
Alessandro Francisco é doutor em Filosofia pela PUC-SP e pela
Université Paris 8, é professor dos cursos de Pós-Graduação
Lato Sensu do UNIFAI e pesquisador associado à
Université Paris 8 e à
École Normale Supérieure de Paris, em nível de Pós-Doutorado.
(Publicado originalmente no site da Revista Cult)