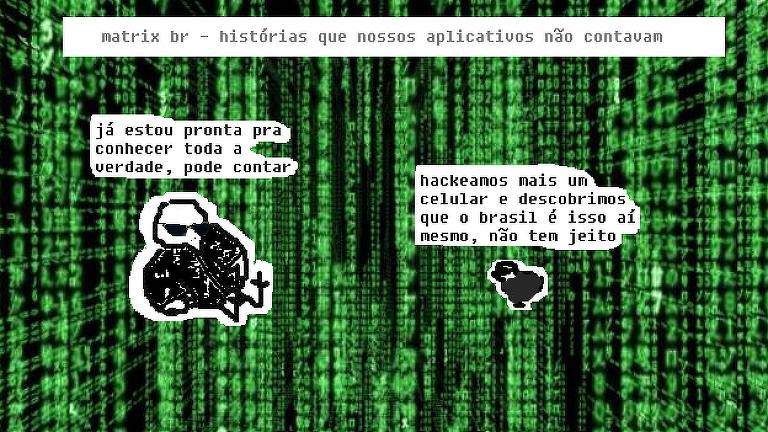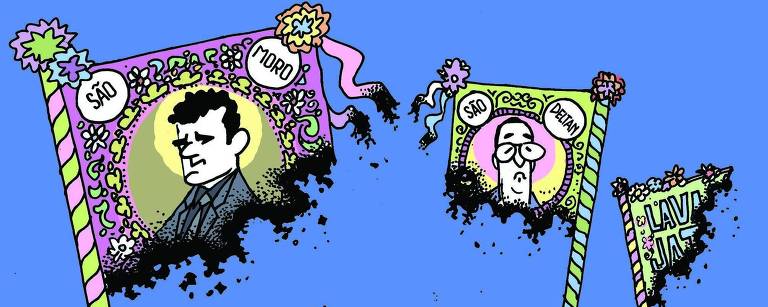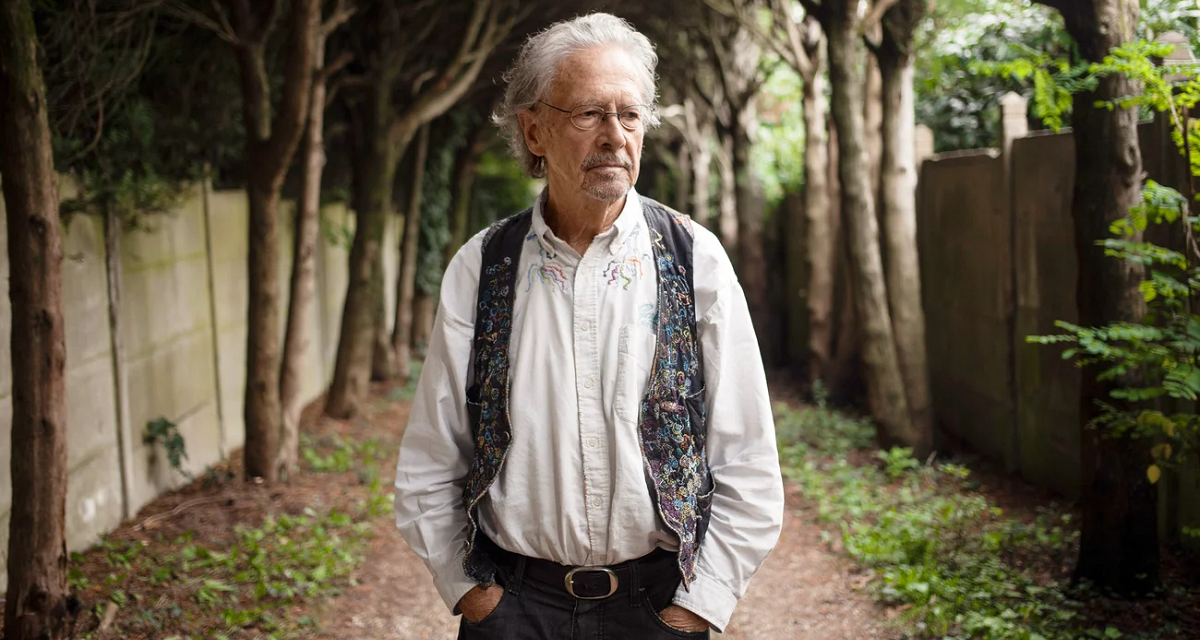Max Weber, conhecido como um dos fundadores da sociologia moderna (Foto: Reprodução)
Embora seja usual falar-se de uma sociologia “weberiana” e de
sociólogos “weberianos”, ou de uma escola “weberiana”, não podemos
aceitar rigorosamente essas classificações, a não ser quando se pretende
demarcar uma tendência dominante, em certos autores e obras, da
influência de conceitos e perspectivas desenvolvidos nos diferentes
trabalhos de Max Weber. Mesmo assim, não há nada, nesse caso,
comparável, por exemplo, seja à apropriação e desenvolvimento das
teorias de
Marx no marxismo, seja à apropriação e desenvolvimento das teorias de
Freud na
psicanálise. Não há nada na obra de Weber que permita desenvolvimento similar ao do
marxismo e ao da
psicanálise, e isso por duas razões.
Em primeiro lugar, Weber não propõe uma revolução científica ou um
deslocamento teórico fundamental, um novo paradigma científico, e nem
foram esses os efeitos epistemológicos de sua obra, como, ao contrário,
parece acontecer com as obras de Marx e de Freud (tal, pelo menos, como
reivindicam marxistas e psicanalistas). O próprio Weber condenava, no
marxismo e na psicanálise, sua unilateralidade radical, que os lançava,
em seu entender, na metafísica e na disputa de pressupostos últimos aos
quais a ciência não poderia responder.
Em segundo lugar, Weber reivindica a tradição acadêmica e científica
da pesquisa histórico-social de seu tempo, mesmo quando de sua
contribuição original para essa ciência, a sociologia, que também se
desenvolve, independentemente de sua obra, e com base em outros
paradigmas, em outros lugares. Ainda que proponha métodos e conceitos
suficientemente abrangentes e rigorosos para entronizá-lo como
fundador de uma
escola,
sua obra não produziu influência dessa maneira, mas de outra, mais
difusa, e também mais coerente com o sentido que a distinguia das
demais.
Weber não formou uma escola, como aconteceu com Marx e Freud, e mesmo
com Durkheim. Não teve discípulos diretos, com os quais precisasse
retificar
constantemente o desenvolvimento de seu próprio paradigma. No entanto, é
indubitável que no desenvolvimento da sociologia, tal como vem se
realizando desde o início do século, a contribuição weberiana é
decisiva, fundamental mesmo, por demarcar um de seus principais
paradigmas. Curiosamente, embora Durkheim tenha uma posição análoga à de
Weber por ter também contribuído com outro paradigma fundamental, e ao
mesmo tempo divergente do dele, não é usual falar atualmente de
sociólogos “durkheimianos” ou de uma sociologia “durkheimiana”, e isso
quando se sabe que a influência de Durkheim foi mais sistemática que a
de Weber, a ponto de ter existido uma “escola durkheimiana” na França, o
que nunca ocorreu com Weber, nem mesmo na Alemanha.
A influência da obra de Weber, embora crescente ainda quando ele
estava vivo, não era do tipo que possibilitasse uma escola. Mesmo essa
influência foi drasticamente interrompida, na Alemanha, 12 anos após sua
morte, pela chegada dos nazistas ao poder. Suas principais obras, com
exceção de
A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo,
permaneceram esgotadas e sem reedições durante quase 20 anos, e em
grande parte espalhadas em revistas e periódicos de pouco acesso ao
público não germânico. Apesar disso, sua influência foi decisiva em
obras que foram publicadas antes da Segunda Guerra, algumas das quais
vieram conformar grande parte do quadro atual da sociologia. Entre essas
obras, basta citar
Ideologia e Utopia, de Karl Mannheim;
História e Consciência de Classe, de Georg Lukács;
Estrutura da Ação Social, de Talcott Parsons; e
Fenomenologia do Mundo Social, de Alfred Schutz.
O weberianismo como contrassenso
Desde aqui já se pode notar a abrangência e o tipo de influência que a
obra de Weber começará a exercer. Nenhum desses trabalhos é “weberiano”
e, no entanto, todos estão numa relação fundamental com a obra de
Weber; em todos eles, também, a posição weberiana é posta em situação de
interlocução, de diálogo com outros pensadores-chave; Lukács e
Mannheim, de modo diferente e pesos desiguais, põem Weber em relação com
Marx, e daí destilam suas contribuições originais; Parsons põe Weber em
relação com Durkheim e Pareto; Shutz coloca Weber em relação com
Husserl.
Para cada uma dessas posições, enfatiza-se um aspecto da obra de
Weber. Pode-se dizer que são Webers diferentes os que saem dessas
posições: um Weber subsumido no marxismo hegeliano de Lukács; um Weber
que retifica e modera Marx, na sociologia do conhecimento de Mannheim;
um Weber fenomenológico, intuicionista, neoidealista, na “síntese” de
Shutz. No campo substantivo da influência, a abrangência e a variedade
não são menores.
A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo
é o rosto mais badalado da influência, mas não é nem a principal nem a
mais duradoura, apesar de ter produzido um dos grandes veios polêmicos
do século. Weber trabalhou sobre campos extraordinariamente diversos e
sua influência acompanha essa diversidade, que vai do direito à
sociologia da música, da história econômica à sociologia das religiões,
da filosofia da ciência à política alemã. Conceitos como “tipo ideal”,
“ação social”, “compreensão”, “autoridade”, “dominação”, “carisma”,
“vocação”, “racionalidade”, “burocracia”, “estamentos”, “legitimidade” e
muitos outros estão inteiramente orientados, na sociologia
contemporânea, pela influência de Weber.
O peso das interpretações pioneiras de Weber, em especial por sua
influência sobre toda a sociologia acadêmica mundial, aquela que veio da
obra de Talcott Parsons, vem passando por ampla reavaliação crítica há
quase cinco décadas. Os resultados dessa reavaliação, que incluiu um
renovado interesse dos marxistas por sua obra, têm possibilitado – 90
anos após sua morte – o conhecimento de um Weber muito mais profundo e
contemporâneo do que as primeiras interpretações poderiam fazer supor.
Não é exagerado afirmar que sua influência, hoje, é comparativamente
mais abrangente, mais sistemática e mais rigorosa do que em sua própria
época ou em qualquer outra, não obstante manter sua característica de
não formar escola. O propalado “weberianismo” é um contrassenso com a
própria perspectiva científica de Weber, e o próprio Weber testemunha
contra esse equívoco: “Na ciência, sabemos que nossas realizações se
tornarão antiquadas em dez, vinte, cinquenta anos. É esse o destino a
que está condicionada a ciência: é o sentido mesmo do trabalho
científico… Toda realização científica suscita novas ‘perguntas’: pede
para ser ‘ultrapassada’ e superada. Quem deseja servir à ciência tem de
resignar-se a tal fato”.
A influência de Weber, apesar disso, ultrapassou seus próprios
cálculos e merece uma reflexão porque é isso que ainda legitima o
emprego de expressões como “weberianismo”. A ciência social carrega a
bendita maldição filosófica de sua origem: a
política. E como a
filosofia e a política, o marxismo e a psicanálise, a sociologia
precisa desenvolver-se renovando sempre suas relações teóricas com seus
pais-fundadores: a reinterpretação das obras clássicas acompanha e
indica esse desenvolvimento, tanto quanto os avanços obtidos nos campos
substantivos (empírico e teórico). Não é impossível escrever uma
história da sociologia com base na sucessão das reinterpretações de seus
clássicos. Essas reinterpretações são tão inesgotáveis quanto sua
tendência para avançar para além do que estava originalmente escrito,
conferindo-lhe uma nova dimensão, só possível pelo avanço substantivo
efetivamente realizado. O que define uma obra como “clássica” é
exatamente isto: manter-se contemporânea.
A influência disseminada
Talcott Parsons, cuja obra dominou a sociologia norte-americana
por mais de duas décadas (1950-1960) e exerceu – e ainda exerce (embora
seja declinante) – influência sobre toda a sociologia acadêmica
mundial, travou contato com a obra de Weber ainda nos anos 1930, na
Alemanha. Sua tese de doutoramento versava sobre o conceito de
capitalismo em Weber e Sombart, o que lhe permitiu preparar o terreno
teórico sobre o qual desenvolveria, em 1937, uma original tentativa de
síntese sociológica, a primeira elaboração de sua teoria geral da ação. O
livro, um grosso calhamaço de mil páginas, intitulado
Estrutura da Ação Social,
dedicou quase um terço das páginas à interpretação parsoniana de Weber.
No entanto, sua apropriação de Weber caracteriza-se pela ênfase posta
sobre as
normas e valores sociais, em função de sua preocupação
em construir as bases de uma teoria da integração social. Se isso lhe
permitiu aproximar Weber de Durkheim muito mais facilmente do que é
efetivamente possível, facilitou, no entanto, uma apropriação da obra de
Weber nos Estados Unidos que, além de incorreta e problemática,
enfatizava excessivamente sua utilização conservadora. No entanto, a
influência de Weber na sociologia norte-americana, até então pequena,
pegou carona no funcionalismo parsoniano e cresceu, até que no fim dos
anos 1960 a revisão interpretativa de suas contribuições começasse a ser
feita, resgatando-o contra Parsons. Quanto a isso, o pioneiro foi C.
Wright Mills, cuja obra reflete uma influência weberiana bastante
diferente daquela encontrada em Parsons e sua escola.
Se Parsons procurou aproximar Weber do funcionalismo durkheimiano,
Wright Mills fez a aproximação com a tradição marxista, extraindo daí
não só uma interpretação, mas um efeito – em suas próprias obras –
crítico e politicamente renovador. Mills foi praticamente uma voz
isolada numa América conservadora e exposta ao maniqueísmo da Guerra
Fria, e uma voz que se calou precocemente (ele morreu aos 47 anos, em
1961). Apesar disso, sua influência na renovação antiparsoniana da
sociologia norte-americana dos anos 1970 deveu-se, em grande parte, à
extração marxista de sua apropriação de Weber, que lhe permitiu
enfatizar, ao contrário de Parsons, os conceitos de classe, de
interesse e de
conflito.
No entanto, ao contrário daquele, Mills jamais tentou uma
sistematização conceitual que lhe permitisse construir uma abordagem tão
abrangente quanto a parsoniana. Por isso, sua contribuição terminou
confinada à sua época.
Lukács, o grande pensador marxista, frequentou assiduamente o Círculo
de Heidelberg, que se reuniu na casa de Weber por quase uma década. Nos
dois últimos anos da vida de Weber, quando já se tornara marxista,
Lukács, ainda sob sua influência, redige alguns dos trabalhos que vão
compor seu livro mais célebre. Além de abundantes referências aos
trabalhos de Weber, Lukács promove uma inusitada aproximação marxista
com a problemática weberiana da “racionalização”, cuja influência
posterior não deve ser negligenciada. Mannheim, que foi chamado de
“marxista burguês” e de weberiano “marxista” (sic), escreveu suas
principais obras entre as décadas de 1920 e 1940. Sua influência,
particularmente no campo da sociologia do conhecimento, é decisiva, e
tão grande quanto sua pretensão de construir uma ponte entre Weber e
Marx que resolvesse algumas das antinomias postas por essa relação. Sua
influência sobre Mills permitiu a este se apartar da todo-poderosa
interpretação parsoniana de Weber. Do mesmo modo, sua obra permitiu aos
funcionalistas manter uma porta aberta ao marxismo (pelo menos nessa
área da “sociologia do conhecimento”), como no estudo de Robert K.
Merton sobre sociologia da ciência.
No pós-guerra, a influência de Weber alastra-se pela Europa e pela
América. Raymond Aron, na França, forja o conceito de “sociedade
industrial” e se apoia em Weber para criticar o marxismo. Ralf
Dahrendorf, na Alemanha, sob forte influência weberiana, revisa o
conceito de classe e, como Aron, substitui capitalismo por “sociedade
industrial”, para enfatizar a dimensão mais abrangente (principalmente
política) dos conflitos sociais do capitalismo tardio. A sociologia
inglesa renova-se com a influência de Weber, principalmente nas obras de
John Rex, J. Goldthorpe, David Lockwood, Frank Parkin e Anthony
Giddens. Na França, Michel Crozier e Alain Touraine estudam a burocracia
e a classe trabalhadora em aberto diálogo com as hipóteses weberianas, e
Pierre Bourdieu reinterpreta Weber em seus trabalhos de sociologia da
cultura.
Apesar da forte influência de Parsons, a sociologia norte-americana
reencontrou Weber de diversas maneiras, desde o pós-guerra até hoje.
Obras muito importantes como as de Seymour M. Lipset, Reinhardt Bendix,
Robert Bellah, Clifford Geertz, Randall Collins e S. Eisenstadt, entre
outros, foram desenvolvidas em constante recuperação e reinterpretação
das hipóteses weberianas. Tendências que aparecem na época da Guerra
Fria, como a sociologia fenomenológica, a etnometodologia, a sociologia
radical, o interacionismo simbólico, retomam Weber exatamente onde
Parsons o havia recalcado: no seu “idealismo”, na sua “sociologia
compreensiva” e nas minuciosas questões metodológicas.
Em compensação, o “materialismo” de Weber é recuperado pelo marxismo
do pós-guerra, que antes lhe havia reservado a indiferença dogmática ou o
ataque superficial. Essa indiferença não existiu nos clássicos do
marxismo, mas tornou-se dominante no período stalinista. Kautsky,
Bukhárin, Rosa Luxemburgo, Gramsci, Lukács e Max Adler citam Weber e
quase sempre em apoio às suas próprias ideias. Mas o conhecimento da
obra de Weber era ínfimo, se comparado ao que os marxistas
contemporâneos passam a ostentar a partir dos anos 1960. A influência de
Weber na Escola de Frankfurt é reconhecida e bastante significativa,
principalmente na obra de Habermas. A crítica superficial foi abandonada
e o rigor com que muitos marxistas reavaliam a obra de Weber não fica
nada a dever ao ostentado pelos “weberianos”.
Uma verdadeira história das reinterpretações de Weber e de suas
disputas teria, agora, que descer ao campo temático e conceitual.
Acompanhar a disputa dos conceitos, a detecção de suas ambiguidades
originais, o aparecimento de novos problemas sobre os escombros de
problemas que pareciam resolvidos, enfim, teria de ser uma história da
constante reatualização de Weber, como a feita brilhantemente por
Wolfgang Schluter nas últimas décadas. Aqui entrariam, por exemplo, a
penetrante e nem sempre admitida influência de Weber sobre as obras
seminais de Norbert Elias e Michel Foucault, apenas para citar dois
nomes que continuam em evidência. Naturalmente, isso não pode ser feito
aqui. De qualquer modo, será feito por cada sociólogo, em sua área
específica de atuação. Isso será inevitável sempre que se descobrir que o
sociólogo “weberiano” se dedica a uma coisa “que na realidade jamais
chega, e jamais pode chegar, ao fim”.
Quem foi
Max Weber é conhecido como um dos fundadores da sociologia moderna,
ao lado de pensadores como Vilfredo Pareto (1848-1923), Émile Durkheim
(1858-1917) e Georg Simmel (1858-1918). Seu pensamento é marcado por uma
crítica do materialismo histórico, que, em seu dizer, petrifica as
relações entre as formas de produção e de trabalho e as outras
manifestações culturais da sociedade. Para ele, o pensador social deve
estar disposto a reconhecer a influência que as formas culturais, como a
religião, por exemplo, podem exercer sobre a própria estrutura
econômica.Karl Emil Maximilian Weber nasceu em Erfurt, em 1864, em uma
família protestante.A partir de 1869, instala-se com a família em
Berlim. Seu pai foi deputado do Partido Nacional Liberal, e, graças a
ele, Weber, desde cedo, teve contato com homens políticos e pensadores
influentes que eram frequentemente convidados à sua casa.
O jovem Max, entediando-se na escola e tendo pouco contato com os
colegas de sua idade, tornou-se um leitor insaciável. Suas leituras
(Cícero, Maquiavel, Kant etc.) testemunham sua grande precocidade
intelectual. Terminada sua formação básica, Weber inscreve-se na
Faculdade de Direito de Heidelberg, seguindo igualmente cursos de
economia política, filosofia, história e teologia.Em 1889, Weber conclui
seu doutorado sobre o desenvolvimento das sociedades comerciais nas
cidades italianas da Idade Média. Em 1891, termina o trabalho A
Importância da História Agrária Romana para o Direito Público e Privado,
que o qualifica para ser professor na universidade. Esses anos foram
decisivos na formação de Max Weber, porque o fizeram se interessar pelos
problemas sociais de sua época.Aos 29 anos, em 1893, assume o cargo de
professor de história do direito romano e de direito comercial na
Faculdade de Berlim. Casa-se com Marianne Schnittger, ícone da causa
feminista e intelectual engajada em questões políticas. Ela terá um
papel decisivo na edição da obra de Weber, supervisionando
principalmente a publicação dos escritos póstumos de seu marido, em
especial de sua obra magna Economia e Sociedade.
De 1897 a 1903, Weber sofre de uma grave depressão nervosa, sendo
obrigado a interromper seu magistério. Em 1903, retomando suas
atividades intelectuais, reorienta suas pesquisas para a sociologia. É
nesse contexto que ele publica A Ética Protestante e o Espírito do
Capitalismo. Em 1909, funda a Sociedade Alemã de Sociologia.
Durante a Primeira Guerra Mundial, Weber inicia a redação de seu
vasto projeto de sociologia comparada das religiões mundiais. Em 1919,
muda-se para Munique, a fim de ocupar a cátedra de sociologia que a
universidade havia criado especialmente para ele. É nessa ocasião que
ele pronuncia duas de suas mais conhecidas conferências: “A Ciência como
Vocação” e “A Política como Vocação”. Morreu subitamente em 1920, em
consequência de uma pneumonia mal tratada.
Michel Misse é professor de sociologia da UFRJ
(Publicado originalmente no site da Revista Cult)