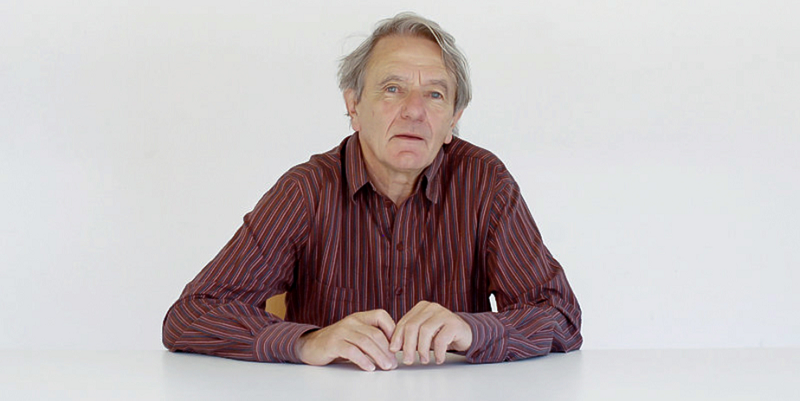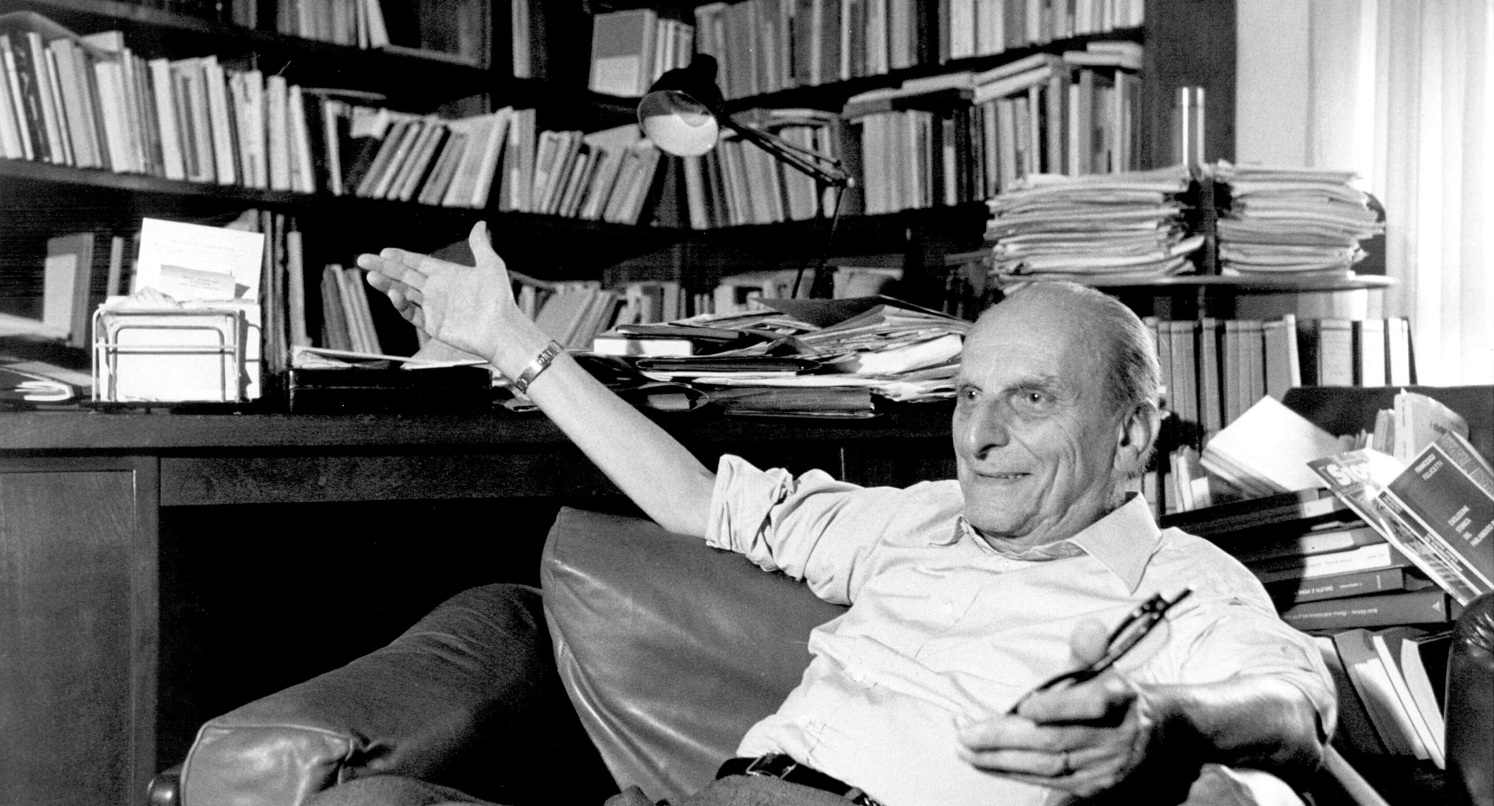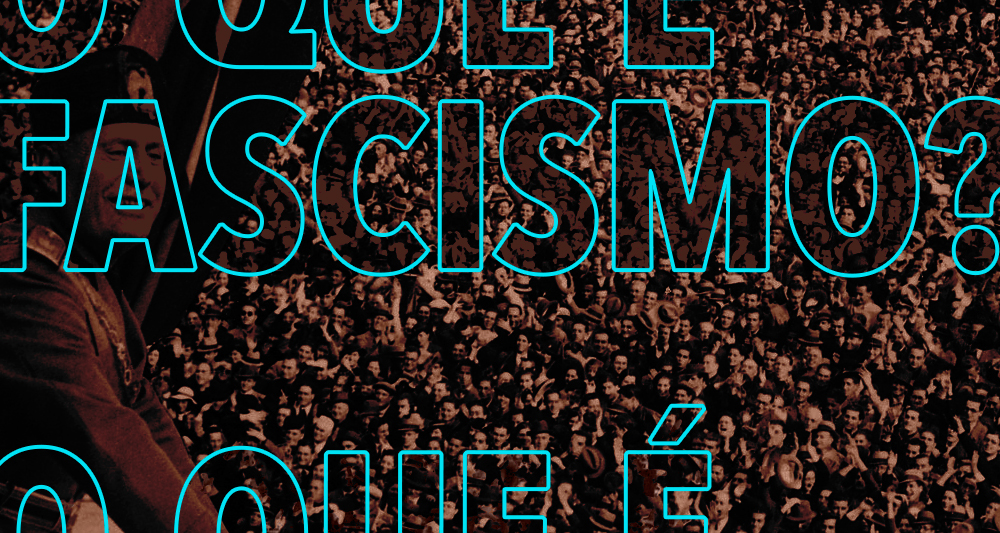Nas salas de aula do ensino médio da rede pública, professores costumam reclamar dos desafios para prender a atenção dos jovens. Numa mistura de ceticismo e fatalismo, muitos alunos preferem abandonar a escola para ganhar dinheiro e se sustentar, como se soubessem dos obstáculos que teriam para escapar do futuro insosso que os espera. É como se as escolas não fossem capazes de despertar em muitos jovens a capacidade de sonhar; não fossem capazes de interagir com múltiplas moralidades e estimular um novo padrão ético pautado na cidadania e na vida como valor público supremo.
Escolas que poderiam servir como portas de entrada da rede de acolhimento, atendimento social e cidadania isolam-se em seus edifícios cada vez mais vilipendiados e ameaçados pelo crime, que parece seduzir principalmente as subjetividades masculinas em formação, oferecendo a possibilidade de uma vida de aventura, insubmissão, consumo, satisfações desenfreada das pulsões e desejos, e luta contra um sistema que oprime e humilha, mesmo que ao preço de morrer jovem ou de perder a liberdade numa prisão lotada.

Como convencer os adolescentes a duvidar das ilusões e promessas da vida no crime? Como despertar nesses jovens sonhos de contribuir para o bem-estar coletivo do mundo em que vivem? Como gerar empatia diante de tantas injustiças e desigualdades? Como fazer frente ao imaginário social que divide a sociedade entre “cidadãos de bem” e “bandidos” e aceita que estes últimos sejam matáveis?
Em vez de despertarem sonhos e vocações, as instituições passaram a agir como se estivessem em conflito aberto contra os jovens pobres. Em 1990, o país tinha 90 mil presos, total que passou para 726 mil em 2016. Mesmo com a escalada vertiginosa de encarceramento, que dependeu também de investimentos crescentes no policiamento ostensivo militarizado nos bairros pobres, a situação degringolou.
A prisão passou a ser uma das poucas políticas públicas universais para os jovens brasileiros pobres e negros, independentemente de ela ser hoje o principal celeiro do crime e da violência no país. Vivemos em um transe, em que se acredita que o veneno que nos sufoca como nação democrática é o remédio para nossos males.
Em 2005, no primeiro levantamento feito pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o país tinha registrado 40.975 homicídios. Em 2017, foram 63.880 casos. Isso para não falar dos mais de 60 mil registros de estupros e das mais de 220 mil ocorrências de violência doméstica contra mulheres. As prisões superlotadas, em vez de controlarem o crime, se tornaram locais de articulação e formação de redes para as lideranças criminais. O rápido fortalecimento e espraiamento das facções dentro e fora dos presídios mudou a cena do crime no Brasil, ampliando o mercado de drogas e de armas em escala inédita.
Mesmo diante das evidências dos limites dessa política, alguns candidatos seguem prometendo mais do mesmo remédio-veneno. Defendem só construir prisões e endurecer as penas; defendem e louvam a violência como resposta à violência, em uma vendeta que parece longe de acabar. Poucos olham para os custos econômicos e sociais dessas opções político-ideológicas.
As incursões cotidianas das polícias militares nos bairros pobres, prendendo muitas vezes usuários de droga ou pequenos vendedores, geram violência desnecessária e excessiva. Um policial é morto todos os dias no país. Em sentido inverso, as polícias brasileiras mataram ao menos 14 pessoas por dia em 2017 e, mesmo que entre estas haja casos legítimos, pouco se divulga acerca das investigações e das razões que motivaram essas mortes. Em vez de controlar o crime e a violência, isso aumenta a sensação de raiva e de impotência daqueles que passam a se enxergar como inimigos.
Se a educação é a maior “arma” da cidadania, a frustração ajuda a sabotar a tarefa dos educadores de abrir portas para o futuro dos adolescentes. A segurança passa a ser vista como tema exclusivo das polícias e vira presa fácil de discursos pautados no medo e na exploração da desesperança e na falta de perspectivas. O mata-mata é estimulado pela covardia política e pela valentia retórica de quem se arvora porta-voz da virtude.
Nas prisões lotadas, as lideranças criminais se aproveitam para engrossar suas fileiras, criando um discurso sedutor. “O crime fortalece o crime” é um dos motes dos grupos criminosos. Como o sistema os enxerga como inimigos, sujeitos a serem exterminados ou trancafiados sem direitos, cabe se organizar para ganhar dinheiro no crime e “bater de frente” com o sistema.
Uma política de segurança precisa desmontar essa máquina de guerra e de encarceramento que ajudou a promover a expansão do crime e fortaleceu as facções. Para isso, as polícias devem agir com estratégia e foco, de forma inteligente, para fragilizar economicamente as tiranias armadas financiadas pelo dinheiro ilegal, que gera violência no tráfico de drogas, nas milícias e nos grupos de extermínio que matam e cobram para oferecer proteção, entre outras atividades.
A vitalidade de democracias modernas depende da capacidade do Estado de preservar o monopólio do uso legítimo da força. A engrenagem de guerra, além de produzir revolta nos jovens perseguidos, vem criando grupos paramilitares que, ao terem carta branca para matar, acabam se voltando contra o Estado em defesa de seus interesses financeiros e corporativos.
Mais do que o esforço brutal de prender em flagrante nos bairros pobres, os alicerces estratégicos e financeiros dessa atividade devem ser fragilizados. Isso depende do compartilhamento de informações entre as instituições policiais e de justiça desde Polícia Militar e Civil, passando pelo Ministério Público, secretarias de administração penitenciária, instituições de investigação econômica e penal, em âmbito estadual e federal.
Quem são os chefes e grandes financiadores, onde o dinheiro é depositado e lavado, de onde vêm as mercadorias ilegais, quais são as conexões com autoridades, onde compram armas. A capacidade de sedução das facções e quadrilhas vai diminuir com a queda do lucro gerado nessas atividades. Para tanto, a batalha urgente a ser travada é aquela para emperrar a engrenagem financeira do crime. Não precisamos de mais guerras para alimentar os senhores da morte, encarcerar e/ou exterminar jovens pobres e negros.
Mais importante, contudo, é a disputa das subjetividades masculinas na transição da adolescência para a vida adulta. O desafio é liderar e apontar caminhos para esses corações e essas mentes. Para construir sonhos e seduzir, as instituições do Estado devem abrir portas, estimular a vontade de compartilhar uma vida comum e solidária. Isso é feito com escola, arte, cultura, esporte, lazer, saúde de qualidade, debates, conversas, incluindo aqueles que um dia se iludiram com as promessas do crime até perceber que estavam sendo enganados. Enganam-se aqueles que acreditam que a autoridade e o poder são exercidos com o uso desmedido da violência. Conseguem liderar e fortalecer numa democracia aqueles que percebem que, na verdade, estão construindo sonhos e disputando o futuro.
*Bruno Paes Manso é doutor em Ciência Política pela USP, jornalista e pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência (NEV-USP); Renato Sérgio de Lima é doutor em Sociologia pela USP, professor da FGV-Eaesp e diretor presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública; Samira Bueno é doutora em Administração Pública e Governo pela FGV-Eaesp e diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
Escolas que poderiam servir como portas de entrada da rede de acolhimento, atendimento social e cidadania isolam-se em seus edifícios cada vez mais vilipendiados e ameaçados pelo crime, que parece seduzir principalmente as subjetividades masculinas em formação, oferecendo a possibilidade de uma vida de aventura, insubmissão, consumo, satisfações desenfreada das pulsões e desejos, e luta contra um sistema que oprime e humilha, mesmo que ao preço de morrer jovem ou de perder a liberdade numa prisão lotada.

Como convencer os adolescentes a duvidar das ilusões e promessas da vida no crime? Como despertar nesses jovens sonhos de contribuir para o bem-estar coletivo do mundo em que vivem? Como gerar empatia diante de tantas injustiças e desigualdades? Como fazer frente ao imaginário social que divide a sociedade entre “cidadãos de bem” e “bandidos” e aceita que estes últimos sejam matáveis?
Em vez de despertarem sonhos e vocações, as instituições passaram a agir como se estivessem em conflito aberto contra os jovens pobres. Em 1990, o país tinha 90 mil presos, total que passou para 726 mil em 2016. Mesmo com a escalada vertiginosa de encarceramento, que dependeu também de investimentos crescentes no policiamento ostensivo militarizado nos bairros pobres, a situação degringolou.
A prisão passou a ser uma das poucas políticas públicas universais para os jovens brasileiros pobres e negros, independentemente de ela ser hoje o principal celeiro do crime e da violência no país. Vivemos em um transe, em que se acredita que o veneno que nos sufoca como nação democrática é o remédio para nossos males.
Em 2005, no primeiro levantamento feito pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o país tinha registrado 40.975 homicídios. Em 2017, foram 63.880 casos. Isso para não falar dos mais de 60 mil registros de estupros e das mais de 220 mil ocorrências de violência doméstica contra mulheres. As prisões superlotadas, em vez de controlarem o crime, se tornaram locais de articulação e formação de redes para as lideranças criminais. O rápido fortalecimento e espraiamento das facções dentro e fora dos presídios mudou a cena do crime no Brasil, ampliando o mercado de drogas e de armas em escala inédita.
Mesmo diante das evidências dos limites dessa política, alguns candidatos seguem prometendo mais do mesmo remédio-veneno. Defendem só construir prisões e endurecer as penas; defendem e louvam a violência como resposta à violência, em uma vendeta que parece longe de acabar. Poucos olham para os custos econômicos e sociais dessas opções político-ideológicas.
As incursões cotidianas das polícias militares nos bairros pobres, prendendo muitas vezes usuários de droga ou pequenos vendedores, geram violência desnecessária e excessiva. Um policial é morto todos os dias no país. Em sentido inverso, as polícias brasileiras mataram ao menos 14 pessoas por dia em 2017 e, mesmo que entre estas haja casos legítimos, pouco se divulga acerca das investigações e das razões que motivaram essas mortes. Em vez de controlar o crime e a violência, isso aumenta a sensação de raiva e de impotência daqueles que passam a se enxergar como inimigos.
Se a educação é a maior “arma” da cidadania, a frustração ajuda a sabotar a tarefa dos educadores de abrir portas para o futuro dos adolescentes. A segurança passa a ser vista como tema exclusivo das polícias e vira presa fácil de discursos pautados no medo e na exploração da desesperança e na falta de perspectivas. O mata-mata é estimulado pela covardia política e pela valentia retórica de quem se arvora porta-voz da virtude.
Nas prisões lotadas, as lideranças criminais se aproveitam para engrossar suas fileiras, criando um discurso sedutor. “O crime fortalece o crime” é um dos motes dos grupos criminosos. Como o sistema os enxerga como inimigos, sujeitos a serem exterminados ou trancafiados sem direitos, cabe se organizar para ganhar dinheiro no crime e “bater de frente” com o sistema.
Uma política de segurança precisa desmontar essa máquina de guerra e de encarceramento que ajudou a promover a expansão do crime e fortaleceu as facções. Para isso, as polícias devem agir com estratégia e foco, de forma inteligente, para fragilizar economicamente as tiranias armadas financiadas pelo dinheiro ilegal, que gera violência no tráfico de drogas, nas milícias e nos grupos de extermínio que matam e cobram para oferecer proteção, entre outras atividades.
A vitalidade de democracias modernas depende da capacidade do Estado de preservar o monopólio do uso legítimo da força. A engrenagem de guerra, além de produzir revolta nos jovens perseguidos, vem criando grupos paramilitares que, ao terem carta branca para matar, acabam se voltando contra o Estado em defesa de seus interesses financeiros e corporativos.
Mais do que o esforço brutal de prender em flagrante nos bairros pobres, os alicerces estratégicos e financeiros dessa atividade devem ser fragilizados. Isso depende do compartilhamento de informações entre as instituições policiais e de justiça desde Polícia Militar e Civil, passando pelo Ministério Público, secretarias de administração penitenciária, instituições de investigação econômica e penal, em âmbito estadual e federal.
Quem são os chefes e grandes financiadores, onde o dinheiro é depositado e lavado, de onde vêm as mercadorias ilegais, quais são as conexões com autoridades, onde compram armas. A capacidade de sedução das facções e quadrilhas vai diminuir com a queda do lucro gerado nessas atividades. Para tanto, a batalha urgente a ser travada é aquela para emperrar a engrenagem financeira do crime. Não precisamos de mais guerras para alimentar os senhores da morte, encarcerar e/ou exterminar jovens pobres e negros.
Mais importante, contudo, é a disputa das subjetividades masculinas na transição da adolescência para a vida adulta. O desafio é liderar e apontar caminhos para esses corações e essas mentes. Para construir sonhos e seduzir, as instituições do Estado devem abrir portas, estimular a vontade de compartilhar uma vida comum e solidária. Isso é feito com escola, arte, cultura, esporte, lazer, saúde de qualidade, debates, conversas, incluindo aqueles que um dia se iludiram com as promessas do crime até perceber que estavam sendo enganados. Enganam-se aqueles que acreditam que a autoridade e o poder são exercidos com o uso desmedido da violência. Conseguem liderar e fortalecer numa democracia aqueles que percebem que, na verdade, estão construindo sonhos e disputando o futuro.
*Bruno Paes Manso é doutor em Ciência Política pela USP, jornalista e pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência (NEV-USP); Renato Sérgio de Lima é doutor em Sociologia pela USP, professor da FGV-Eaesp e diretor presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública; Samira Bueno é doutora em Administração Pública e Governo pela FGV-Eaesp e diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.