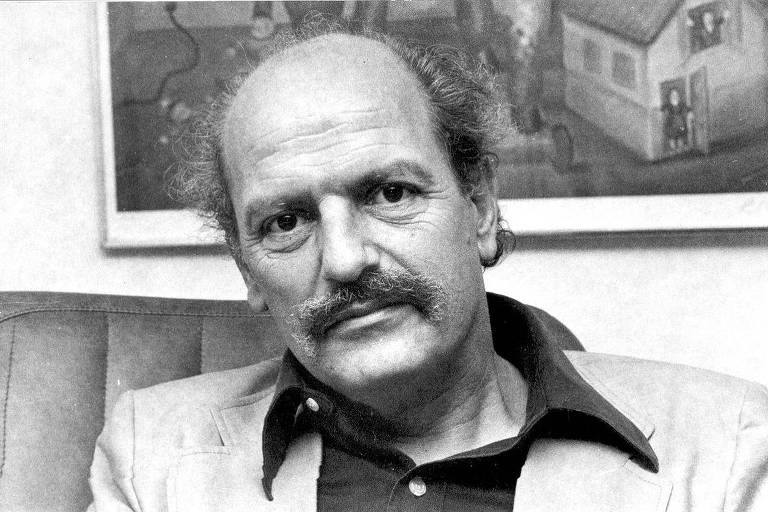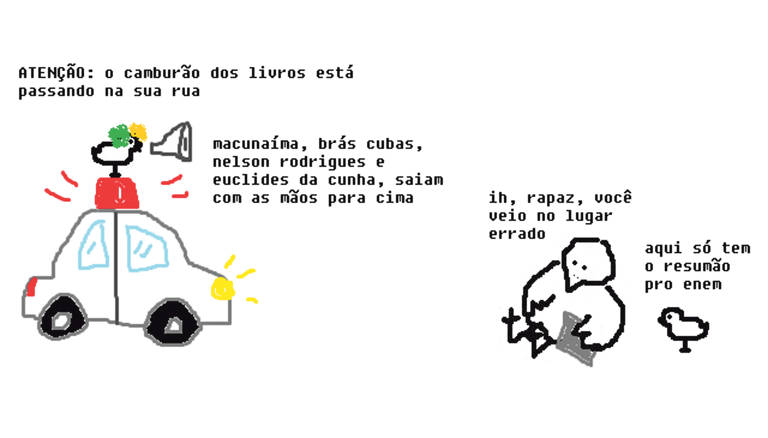De Machado de Assis a Franz Kafka, passando por várias obras de Rubem Fonseca
Redação Quatro Cinco Um
07fev2020 15h08

"Memórias de Brás Cubas", de Machado de Assis, foi uma das obras quase censuradas Joaquim Insley Pacheco/Coleção Gilberto Ferrez/Acervo Instituto Moreira Salles
Nesta
quinta-feira (6) circulou uma ordem do secretário de Educação de
Rondônia, Suamy Vivecananda, determinando o recolhimento de 43 livros da
rede publica de ensino. O motivo seria que as obras teriam “conteúdos
inadequados a crianças e adolescentes”.
O secretário, em um primeiro
momento, declarou que o ofício era falso, mas depois confirmou a
informação, classificando o documento como sigiloso. Diante da polêmica,
a secretaria recuou da medida.
Entre os autores a serem
censurados estão grandes nomes da literatura, como Machado de Assis e
Franz Kafka, além de um observação de que “todos os livros de Rubem
Alves devem ser recolhidos”.
Saiba mais sobre os autores quase censurados em Rondônia
Clássicos brasileiros, que inclusive são leitura obrigatória em alguns vestibulares país afora, como Memórias póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, e Macunaíma,
de Mário de Andrade, estão entre os títulos a serem censurados, assim
como dezoito obras de Rubem Fonseca , poemas de Ferreira Gullar e uma
coletânea de contos de Caio Fernando Abreu. Carlos Heitor Cony também
aparece com vários títulos a serem recolhidos, inclusive sua versão
infantojuvenil da história de Aladim e O mistério da moto de cristal, escrito junto a Ana Lee.
Os sertões – A luta, de Euclides da Cunha, que foi o homenageado da Flip no ano passado, e títulos de Nelson Rodrigues (inclusive uma versão em graphic novel de Vestido de noiva,
um dos grandes nomes do teatro brasileiro. O acesso à toda a obra do
educador Rubem Alves também deveria proibida. Entre autoras mulheres,
além de Ana Lee, estão mais dois nomes: Rosa Amanda Strausz
(organizadora do livro 13 dos melhores contos de amor, que traz contos de autores como Luis Fernando Verissimo, Lygia Fagundes Telles e Carlos Drummond de Andrade) e Sonia Rodrigues (Estrangeira).
Entre os autores estrangeiros estão o clássico O castelo, de Franz Kafka, um retrato crítico sobre a burocracia, e Contos de terror de mistério e de morte, de Edgar Allan Poe. Carlos Nascimento da Silva, com o livro de contos A menina de cá; Ivan Rubino Fernandes, com seu Guia Millôr da história do Brasil, e Aurélio Buarque de Holanda Ferreira com todos os volumes de Mar de histórias completam a lista.
Veja a lista completa dos autores que foram quase censurados:
Ana Lee: O mistério da moto de cristal (com Carlos Heitor Cony)
Aurélio Buarque de Holanda Ferreira: Mar de Histórias
Caio Fernando Abreu: O Melhor De Caio Fernando Abreu – Contos e Crônicas
Carlos Heitor Cony: A
volta por cima, O irmão que tu me deste, O ventre, Rosa vegetal de
sangue, O mistério da moto de cristal (com Ana Lee), Mil e uma noites, O
ato e o fato, O harém das bananeiras
Carlos Nascimento da Silva: A menina de cá,
Edgar Allan Poe: Contos de terror de mistério e de morte
Euclides da Cunha: Os sertões da luta (sic)
Ferreira Gullar: Poemas escolhidos
Franz Kafka: O castelo
Ivan Rubino Fernandes: Guia Millôr da história do Brasil
Machado de Assis: Memórias póstumas de Brás Cubas
Mário de Andrade: Macunaíma, o herói sem nenhum caráter
Nelson Rodrigues: Beijo no asfalto, O melhor de Nelson Rodrigues, Vestido de noiva (graphic novel), A vida como ela é
Rosa Amanda Strausz: 13 dos melhores contos de amor
Rubem Alves: todas as obras
Rubem Fonseca: Diário
de um fescenino, Bufo & Spallanzani, O melhor de Rubem
Fonseca; Secreções, excreções e desatinos; Os prisioneiros,
Agosto, Amálgama, O doente Molière, A coleira do cão, O seminarista,
Histórias curtas, História de amor, O buraco na parede, Feliz ano
novo, Calibre 22; Mandrake, a Bíblia e a bengala; Lúcia
Mccartney, Romance negro e outras histórias
Sonia Rodrigues: Estrangeira
(Publicado originalmente na Quatro Cinco Um, a Revista dos Livros)