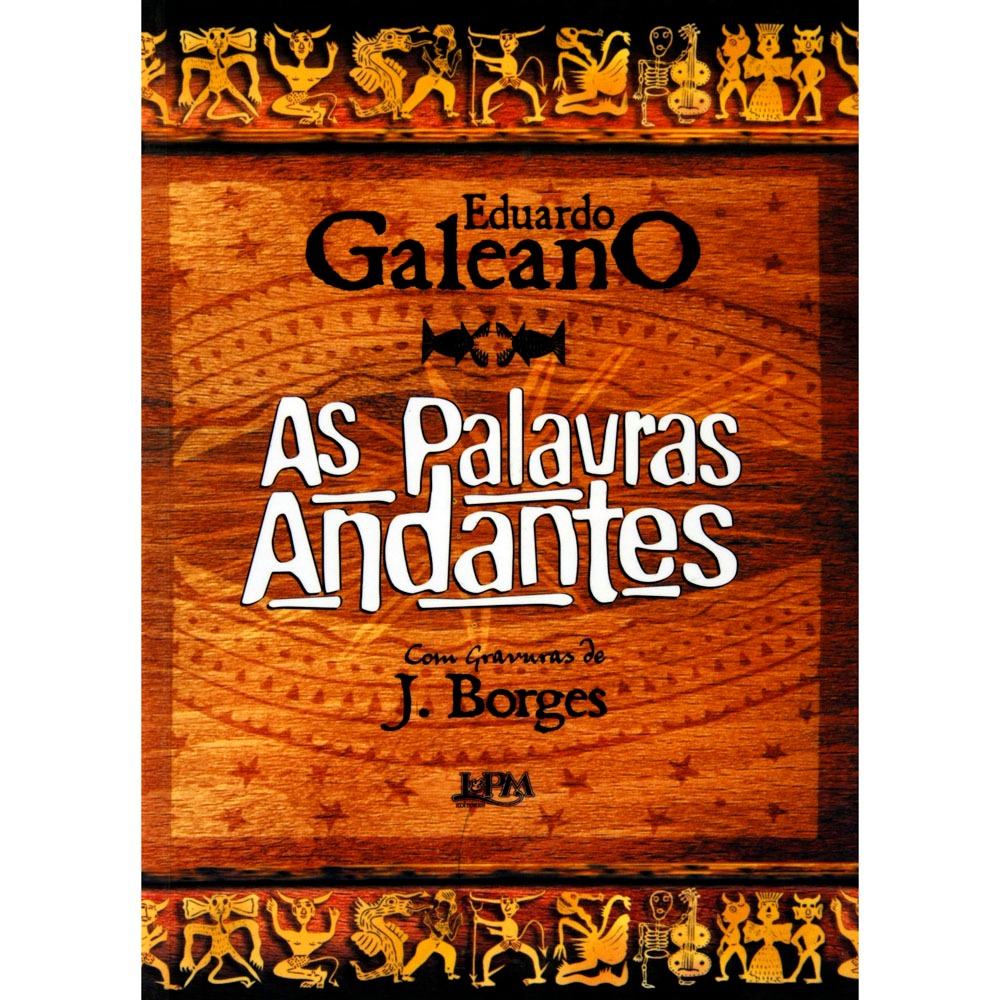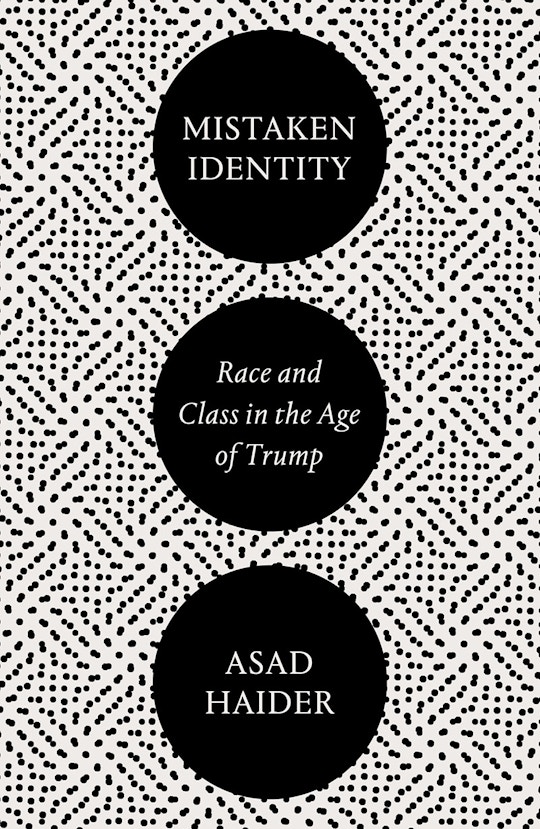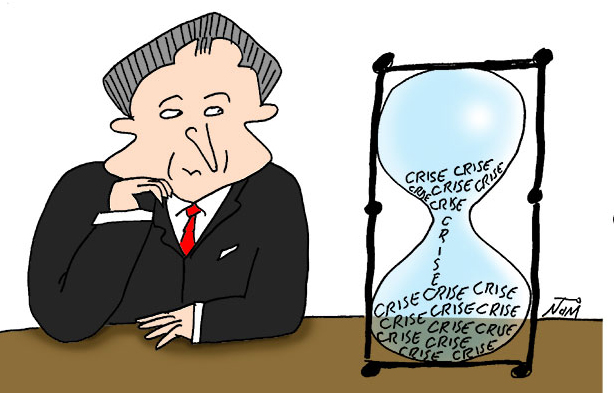Eis que recebo, num sábado, um telefonema do jornalista Arnaldo Viana para uma festança que os moradores de Jacumã estão organizando no Altiplano. Infelizmente, não poderei comparecer. Seria uma ótima oportunidade para reencontrar o maior cronista paraibano e o comendador da Confraria da Serramalte, que se reúne periodicamente no Mercado Municipal, ali no bairro de Tambaú. Convite do Arnaldo é como uma intimação da justiça, não se pode negligenciar. Ainda não sei como vou arranjar uma desculpa com a turma, quem sabe algum compromisso inadiável, uma viagem inesperada, alguma coisa que, de fato, justifique a ausência. Talvez uma visita surpresa à sua fazenda, na zona rural de Triunfo, ou à sua casa de Jacumã, ali no Conde, algo que ele não se sinta ofendido com nossa ausência na festa do Altiplano. Naturalmente, muito bem acompanhado, com uma boa cachaça, um pernil de porco defumado, um queijo de cabra do brejo paraibano... conheço bem as suas fraquezas. Alguma coisa que o faça, depois de algum tempo, recordar os tempos de putaria no baixo Roger. Grande anfitriã, corre-se um sério risco de Dona Zélia esconder tudo num freezer e servir as suas guloseimas e iguarias inimagináveis, reservadas para as visitas especiais.
Formado em direito, mas jornalista de batente - e dos grandes - Arnaldo foi capaz de uma proeza, quando era colunista de um conhecido jornal paraibano: escreveu 365 crônicas durante um ano, uma para cada dia do ano, sobre os mais diversos assuntos,dos costumes, da picardia à política. As crônicas políticas lhes renderam alguns processos, os quais ele vem gerenciando até hoje. Um dia esses processos chegam nas mãos de Gilmar, brinca. Essa gente não gosta de ser criticada. Nesses tempos bicudos que vivemos, não estranha nenhum pouco a existência de projetos que se prestam a censurar os jornalistas e blogueiros, impedindo seu exercício de livre expressão, o que depõe contra a Carta Magna, hoje tão vilipendiada. Lê religiosamente nossos editoriais - enviando com regularidade as suas considerações - o que muito nos honra. Quando escreve sobre costumes, suas tiradas são impagáveis. Seu texto é conciso, direto ao ponto, sem arrodeios. "Corrosivo" como o diabo verde em certos momentos. Melhor seria dizer nos momentos certos, pois Arnaldo sabe exatamente quando atacar e quando se defender. Conhece os bastidores da política paraibana como nenhum outro jornalista. É o nosso correspondente naquelas bandas.
Nossas farras em Jacumã já entraram para o folclore local. O Bar de Dona Irene é terminantemente fechado para atender à turma, sempre que nos reunimos por lá. O cardápio é variado, mas inclui, entre outras iguarias, ostras, patolas de caranguejos, caldinhos diversos, camarões, ciobas, degustadas por uma legião de admiradores do maior jornalista da Paraíba. Certa vez fiz uma lista com as dez melhores coisas para se fazer em Jacumã. Recebi uma reprimenda do Arnaldo por não incluir essas farras na listagem. E ele tinha razão. A farra de Jacumã só não é maior do que os famosos churrascos organizados em sua fazenda, onde rola de tudo, até altas horas da madrugada. Na manhã seguinte, logo cedinho, o cabra já está a postos para tirar leite das vacas, preparar pessoalmente seu doce de leite fresco, inspecionar o rebanho, pescar traíras num rio que passa na propriedade.
Arnaldo é uma pessoa afável e divertida. Nessas ocasiões, estão presentes as lembranças de uma João Pessoa onde se comia gente nas matas da Bica; suas andanças pelas zonas de baixo meretrício do bairro do Roger e da ração que era servida nas casas de pensão da cidade, onde ficava hospedado para estudar na universidade local. Cuscuz com ovo de segunda a sábado. No domingo, um cardápio especial: carne de lata. Apenas aqueles mancebos que se propunham a aceitar os caprichos das senhoras donas das pensões é que recebiam algum tratamento diferenciado. Um leitinho com Nescau, uma cocada de coco para adoçar aqueles dias amargos e, porque não, amendoins e chás de catuaba, que fazem um bem danado ao "coração".